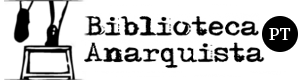Centro de Análise Sistêmica Anarco Comunista
A Contingência como Estrutura: Anarquia Sistêmica Contra o Autoritarismo Algorítmico
A crença na possibilidade de submeter sistemas complexos a um controle absoluto reflete uma herança autoritária que permeia discursos científicos, políticos e culturais. Essa herança assume formas diversas, ora na pretensão de ajustar às constantes fundamentais do universo, ora na fantasia de percorrer livremente o tempo ou, ainda, na ilusão de escapar da Terra em busca de um refúgio tecnocientífico. Essas vertentes: ajuste fino, reversibilidade temporal e escapismo planetário, compartilham o vício de abstrair variáveis isoladas de seu contexto material, histórico e contingente. Em todas elas está subjacente a suposição de que a complexidade, seja orgânica, social ou algorítmica, emerge de um projeto prévio — divino, científico ou corporativo — em vez de resultar de processos distribuídos, emergentes e irreversivelmente inscritos na marcha da entropia e da contingência histórica.
A noção de ajuste fino, deslocada das discussões cosmológicas para a biologia e a engenharia de inteligência artificial, expõe esse vício conceitual. No campo biológico, atribuir ao acerto preciso de fatores exógenos, como distância orbital, composição atmosférica ideal ou calibração inicial de algoritmos, o surgimento da vida é ignorar o caráter lento e contingente da adaptação. A emergência de organismos capazes de sobreviver em condições extremas comprova não um design infalível, mas a plasticidade fenotípica e a seleção natural como forças propulsoras de complexidade. Cada geração carrega em seu genoma vestígios de mutações passadas, moldadas por nichos heterogêneos ao longo de milhões de anos, e não por calibrações prévias.
O exame de extremófilos ilustra de modo ainda mais contundente a inadequação da metáfora do ajuste fino. Arqueias termofílicas habitam fontes hidrotermais a temperaturas acima de cem graus Celsius. Bactérias psicrófilas proliferam em lagos gelados e profundos. Tardígrados entram em estado de criptobiose quando submetidos a ambientes hostis, como radiação intensa ou vácuo quase absoluto. Essa capacidade de entrar em latência extrema, reduzindo o metabolismo a praticamente zero, demonstra que a vida se adapta às circunstâncias e não depende de condições ideais ex ante. A complexidade biológica resulta de acúmulo de pequenas mudanças, sucessivamente testadas e filtradas pelas pressões ambientais.
No universo da inteligência artificial, a lógica é análoga. Modelos de deep learning, redes neurais e AutoML não surgem de um engenheiro demiúrgico que descobriu a arquitetura ideal de antemão. Ao contrário, eles emergem de ciclos sistêmicos de variação e seleção. Pesos e vieses são ajustados por algoritmos de retropropagação que avaliam desempenho, penalizações de regularização e eficiência computacional. Cada iteração de treinamento expõe o modelo a um ambiente de dados que funciona como um nicho ecológico, onde variantes mais aptas sobrevivem e povoam a geração seguinte de redes. A robustez desses sistemas, assim como a dos organismos mais resistentes, provém do acúmulo de ajustes cumulativos, e não de sintonia prévia.
A crítica ao mito da viagem no tempo fornece outra metáfora poderosa para a imbricação inseparável de variáveis em sistemas sociotécnicos. Na teoria da relatividade, espaço e tempo constituem uma única estrutura contínua. O surgimento do tempo como o conhecemos ocorreu com a expansão do espaço nos primeiros instantes do universo, no chamado tempo de Planck[1]. Não é possível conceber um salto temporal desvinculado de deslocamento espacial. Viajar cem mil anos ao passado no “mesmo lugar” implicaria transportar-se também para as configurações geológicas, climáticas e ecológicas próprias daquela coordenada espaço-temporal — um lago tóxico ou uma região ainda submersa. A reversibilidade pura é uma ficção que ignora a historicidade irreversível das formações materiais.
Essa historicidade irreversível se aplica igualmente aos sistemas sociais e técnicos. As transformações dos fluxos de informação e das estruturas de poder seguem uma flecha entrópica que impede qualquer retorno literal a “tempos idílicos”[2]. Cada arranjo social carrega marcas de eventos passados e de rupturas. Nenhum mapa preditivo, por mais sofisticado, pode congelar comportamentos humanos ou sociais sem enfrentar o ruído, as mutações culturais e as resistências coletivas. A ideia de replay determinístico dos dados esbarra na criatividade dos atores e na imprevisibilidade dos contextos.
A utopia escapista de colonizar outro planeta, tão presente em narrativas como o filme Interestelar[3], é a versão cultural desse mesmo desvio abstracionista. Em cena, cientistas e militares abandonam a luta por transformar a Terra e apostam numa migração extraterrestre como única salvação. Esse imaginário reflete uma desistência política de enfrentar as contradições do capitalismo e do Estado, substituindo a luta por mudanças estruturais por um “plano B” sideral. Ao deslocar o problema para além dos limites geossociais, ignora-se a interdependência entre ecologia, economia e relações de poder, como se o solo de outro planeta não carregasse as mesmas dinâmicas de exploração.
A crítica ao autoritarismo algorítmico converge com essa rejeição das fantasias de controle e fuga[4]. Corporações e Estados almejam modelos preditivos fechados para moldar comportamentos de consumo, trabalho e mobilidade social. Eles investem em vigilância ubíqua, algoritmos de recomendação e sistemas de crédito social que pretendem eliminar surpresas e incertezas. No entanto, a plasticidade estrutural das sociedades e a capacidade de adaptação dos indivíduos frustram qualquer esquema de regulação total. A dominação algorítmica se apresenta como uma forma de soberania técnica, mas encontra limites na heterogeneidade dos contextos e nas reinvenções coletivas.
A visão tecnocrática de futuro, que enxerga na IA e na automação a solução definitiva para as mazelas sociais, decorre do mesmo equívoco de que sistemas complexos podem ser geridos a partir de parâmetros isolados. A espera por algoritmos oniscientes e neutros alimenta projetos políticos que negligenciam a organização popular e a autonomia local[5]. Ao valorizar exclusivamente o poder de cálculo e a eficiência instrumental, subestima-se a dimensão ética, política e relacional das tecnologias. Sistemas sociotécnicos só se tornam verdadeiramente livres e cooperativos quando concebidos como espaços de experimentação aberta e anarquista.
Revelar a contingência como princípio estruturante é um gesto político transformador. Se a vida, os algoritmos e as sociedades se desenvolvem por processos iterativos e irreversíveis, então é impossível enquadrar futuros ou guiar comportamentos a partir de um centro de comando. A autonomia reside na capacidade de adaptação local e na tessitura de redes horizontais de cooperação. Nesse sentido, a anarquia sistêmica se desloca de um conceito meramente negativo de ausência de governo para uma concepção positiva de organização baseada em feedback contínuo e reinvenção constante[6].
A crítica ao mito do controle total, seja pelo ajuste fino, pela reversibilidade temporal ou pelo escapismo planetário, culmina num projeto de prática política antiautoritária. Em lugar de depositar esperança em resets externos — cosmológicos ou tecnológicos —, devemos investir na transformação de nossas ecologias materiais, sociais e cognitivas. Valorizar a experimentação radical, o dissenso ativo e a relacionalidade indeterminada significa reconhecer que a complexidade não é um obstáculo a ser eliminado, mas a condição de possibilidade da liberdade. Só assim poderemos enfrentar de modo genuíno o capitalismo algorítmico e o Estado técnico, instaurando formas de vida que celebrem a imprevisibilidade criativa de coletividades vivas.
No plano narrativo, o filme explora elementos de física teórica, como dilatação temporal, buracos de minhoca, relatividade e dimensões superiores, incorporando também um sentimentalismo centrado na conexão afetiva entre pai e filha, que atravessa o tempo como fio condutor emocional. Há uma articulação com conceitos como o tempo de Planck, singularidades gravitacionais e mesmo especulações sobre inteligência extradimensional.
No entanto, sob o fascínio visual e a complexidade científica do enredo, Interestelar carrega uma profunda limitação política. A solução central do filme desloca o problema ecológico e civilizacional do plano material e histórico imediato para uma abstração tecnocientífica transcendental. A catástrofe socioambiental não é enfrentada como resultado das contradições sistêmicas do capitalismo global, do extrativismo, da lógica de acumulação e da devastação do metabolismo ecológico; em vez disso, o enredo desiste de qualquer possibilidade de transformação imanente da Terra, deslocando a “salvação” da humanidade para um projeto escapista de colonização interestelar.
Esse deslocamento funciona como metáfora ideológica de nossa própria contemporaneidade: diante da falência estrutural das instituições políticas, da crise climática e da exaustão do modelo econômico vigente, as respostas dominantes preferem imaginar futuros de alta tecnologia, colonização espacial e gestão algorítmica, em vez de confrontar as bases materiais do sistema que produziu o colapso. Interestelar, assim, acaba naturalizando um duplo fracasso: o da imaginação política emancipadora e o da capacidade humana de reorganizar suas formas de vida de maneira radicalmente diferente dentro do próprio planeta.
Sob o olhar da crítica sistêmica libertária, Interestelar expressa o velho vício da transcendência: que em vez de apostar na transformação horizontal, cooperativa e imanente das redes socioeconômicas terrestres, projeta uma fuga vertical, tecnocrática e autoritária, onde a sobrevivência depende não da coletividade, mas da expertise isolada de uma elite científica. É, no fundo, a atualização cinematográfica da velha fórmula do “plano B” das elites tecnológicas: abandonar a Terra quando ela deixar de ser lucrativa e controlável.
[1] O chamado tempo de Planck corresponde ao menor intervalo temporal conceitualmente definido pela física contemporânea, resultante da interação entre as constantes fundamentais: velocidade da luz, constante gravitacional e constante de Planck reduzida. Trata-se de um limite físico teórico (aproximadamente 5.39 × 10⁻⁴⁴ segundos), abaixo do qual a própria noção de espaço-tempo contínuo se dissolve em uma instabilidade quântica extrema, onde flutuações gravitacionais e energéticas assumem proporções incoerentes com qualquer descrição clássica. Não existe um “antes” do tempo de Planck no sentido convencional, pois a própria linearidade causal e espacial só emerge após essa transição. A conexão com a teoria da anarquia sistêmica reside no fato de que tanto o cosmos quanto as sociedades humanas não partem de arquiteturas predeterminadas, mas de processos emergentes, distribuídos e historicamente contingentes, em que a ordem se constrói iterativamente a partir do caos inicial. Assim como não há um “comando central” no surgimento do espaço-tempo, também na organização anárquica não há governantes nem arquitetos transcendentes, mas circuitos adaptativos, autorregulação imanente e reinvenção contínua das estruturas.
[2] Flecha entrópica: expressão que designa o caráter irreversível dos processos físicos e históricos, determinado pelo aumento contínuo da entropia nos sistemas fechados. Na física, a segunda lei da termodinâmica estabelece que a desordem total (entropia) do universo tende a crescer, impossibilitando um retorno espontâneo a estados anteriores de maior ordem. Na dimensão histórica e social, essa flecha entrópica se traduz na impossibilidade de reconstituir integralmente arranjos sociais, ecológicos ou culturais passados, pois cada evento, ruptura ou adaptação introduz transformações materiais e simbólicas irreversíveis. Não há um “tempo idílico” ao qual seja possível retornar, já que a própria trajetória de acúmulos, contingências e mutações impede qualquer repetição exata do passado.
[3] Interestelar (2014), dirigido por Christopher Nolan, apresenta um futuro distópico em que a Terra enfrenta o colapso ecológico, com escassez alimentar, degradação ambiental e perda da capacidade produtiva. Nesse cenário de crise global, a única saída considerada pelos governos e elites científicas não é a transformação radical das relações socioeconômicas que produziram o colapso, mas a busca de um novo planeta habitável para a migração da espécie humana. Um grupo de astronautas, liderado por Cooper (Matthew McConaughey), embarca então em uma viagem interplanetária através de um buraco de minhoca, em busca de mundos alternativos para a continuidade da vida humana.
[4] Autoritarismo algorítmico (ou algoritmocracia) é forma contemporânea de dominação social e política na qual sistemas algorítmicos automatizados assumem a função de decidir, predizer e normatizar comportamentos individuais e coletivos, substituindo processos deliberativos por mecanismos estatísticos opacos. Essa estrutura transfere o exercício do poder para arquiteturas computacionais geridas por elites técnicas, econômicas e estatais, configurando uma governança preditiva e preventiva que atua sobre o futuro antes mesmo que eventos ocorram. Diferente dos autoritarismos clássicos, opera de modo invisível, disperso e contínuo, promovendo a neutralização do dissenso, o bloqueio das imprevisibilidades sociais e a supressão da autonomia coletiva.
[5] A confiança acrítica em sistemas tecnológicos considerados “oniscientes” e “neutros” reproduz um tipo de determinismo que já se manifestou em correntes marxistas tradicionais. Nessas correntes, o desenvolvimento das forças produtivas e a gestão estatal são vistos como condições suficientes para a emancipação social, minimizando a importância da ação direta, da organização popular autônoma e da autonomia local. Tal visão negligencia a complexidade das relações sociais, a heterogeneidade dos contextos e o papel decisivo das resistências e reinvenções coletivas que escapam a qualquer esquema de controle total.
[6] Revelar essa contingência como princípio estruturante significa reconhecer que os sistemas complexos: biológicos, sociais e tecnológicos — não se desenvolvem segundo trajetórias lineares ou previsíveis, mas através de processos iterativos, irreversíveis e marcados pela emergência de novas formas e relações. Essa visão rejeita a ideia de um controle centralizado capaz de direcionar comportamentos ou futuros de maneira absoluta. Ao invés disso, a autonomia política, econômica e social deve ser entendida como a capacidade de adaptação e resiliência locais, ancorada na criação e manutenção de redes horizontais que permitem o intercâmbio dinâmico de informações, recursos e práticas. Nesse contexto, a anarquia sistêmica transcende a simples negação do governo ou da autoridade, configurando-se como uma forma positiva de organização social e política, fundada em feedback contínuo, auto-regulação e reinvenção constante. Trata-se de uma concepção que enfatiza a plasticidade dos sistemas e valoriza a liberdade como um processo vivo, emergente e relacional, onde a cooperação e a experimentação são essenciais para enfrentar a complexidade inerente das coletividades.