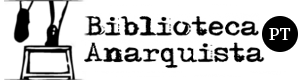Ela não possui direitos autorais pode e deve ser reproduzida no todo ou em parte, além de ser liberada a sua distribuição, preservando seu conteúdo e o nome do autor.
Miguel Amorós
Globalização e Geopolítica
Nas classes médias decrescentes da cada vez mais impotente sociedade europeia, ainda subsiste a ilusão liberal-cidadanista de que a maquinaria do Estado é controlável pelos parlamentos. E que, graças a esse controle político, o próprio Estado pode representar a “cidadania”, ou seja, agir de acordo com os critérios morais da mesocracia, tomando partido por aquilo que ela considera justo, contra o que acredita não ser justiça. Assim, o mundo é visto como um palco onde o bem geral e o mal absoluto disputam terreno, e, em caso de conflito, a boa consciência maniqueísta dos partidos — que agem como empresas privadas — deve demonstrar diligência ao se colocar do lado certo, o dos “bons”. No entanto, todos os lados deixam muito a desejar, e, ao se aprofundar, surgem contradições que levantam dúvidas sobre a bondade da facção escolhida, as quais nem sempre podem ser apaziguadas com altas doses de ideologia. Ninguém joga limpo quando os interesses particulares prevalecem.
Claro que nos horrorizam os massacres; abominamos as diferenças de classe, rejeitamos as coações de qualquer tipo, odiamos as ditaduras, detestamos a burocracia e execramos o patriarcado. Também tomamos partido — nos posicionamos —, mas não para nos identificarmos mecanicamente e de forma contemplativa com os inimigos aparentes de nosso verdadeiro inimigo, ou seja, a classe dominante. Não somos espectadores atentos aos movimentos do contendente com o qual nos solidarizamos de forma abstrata. Agindo assim, não nos opomos de verdade aos poderes que se repartem o mundo. Nosso interesse está mais em elucidar as causas que nos conduziram à situação em que nos encontramos, para assim desvelar a verdadeira natureza dos conflitos atuais e descobrir os objetivos ocultos perseguidos pelas facções oficialmente em luta. A causa mais importante é óbvia: a desaparição do proletariado como classe consciente, da qual decorre a ausência de um movimento revolucionário digno desse nome. Tendo isso em mente, devemos considerar o mundo como um todo, como uma realidade global e histórica perfeitamente ordenada segundo uma lógica estranha, cujas regras obedecem aos jogos internacionais de poder e às vicissitudes do mercado mundial. A partir disso, tentaríamos compreender os temas principais de nosso tempo, desde as guerras na Ucrânia e Gaza, até as eleições na Venezuela ou no México, desde a ascensão de Trump, a ideologia woke e a extrema direita europeia, até a resistência de Rojava, o fracasso da primavera árabe e a hegemonia chinesa.
Estamos imersos em uma economia globalizada, onde todas as atividades econômicas estão interconectadas, formando um todo. Os imperativos do crescimento dominam o mundo, e qualquer acontecimento disruptivo — como uma pandemia, uma guerra ou uma crise financeira — afeta de maneira uniforme todas as partes do sistema. A economia se transformou diretamente em poder, algo importante demais para ser deixado nas mãos de empresários, latifundiários ou políticos. Esses são apenas correias de transmissão das decisões tomadas em escritórios de nível mais alto, já que, no sistema globalizado, a propriedade e o comércio em grande escala perderam relevância, dando lugar ao poder de decisão. Assim, independentemente da classe política, sempre subalterna, o topo da classe dominante é composto majoritariamente por altos executivos, burocratas especializados e especialistas. Nesse contexto, o liberalismo, a democracia parlamentar, os partidos políticos, os direitos civis, etc., são coisas do passado; os princípios, valores e metas morais defendidos pela propaganda ideológica perderam importância. O que importa agora é a ordem — a obediência.
A globalização do comércio e das finanças não foi acompanhada por uma homogeneização dos regimes políticos, uma vez que o suicídio político não estava nos planos das oligarquias dominantes. Em nível local e regional, a complexidade das estruturas sistêmicas e a divergência de interesses eram tão vastas que dificultavam qualquer avanço nesse sentido. O legado histórico da “Guerra Fria”, o passado com seu aparato burocrático e o substrato cultural antimoderno pesavam como uma âncora e atrapalhavam o progresso rumo à globalização política. A ordem liberal ficou restrita ao chamado Ocidente, enquanto o restante do mundo ficou de fora. De qualquer forma, o capitalismo desregulador das multinacionais era perfeitamente compatível com outras formas de capitalismo, como o capitalismo oligárquico de Estado, o capitalismo teocrático ou o capitalismo de partido. A supremacia do liberalismo capitalista foi explicitamente estabelecida em 1945, com o domínio econômico e militar dos Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Seu auge ocorreu em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a desintegração da URSS, os tratados de desarmamento e a supremacia global das finanças, levando à chamada globalização, que teve como corolário uma espécie de “americanização” generalizada — ou seja, uma unificação universal de hábitos consumistas, modas, gostos gastronômicos e costumes festivos americanos. De fato, e principalmente devido à rápida expansão da população urbana, a sociedade do espetáculo tornou-se realidade, mas seguindo os moldes dos Estados Unidos, uma vez que a Europa havia perdido sua influência após o fim da “Guerra Fria”. Os destinos do planeta já não dependiam mais de decisões europeias. O continente deixou de ser autônomo em questões de defesa, protegendo-se sob o guarda-chuva americano, o Tratado do Atlântico Norte. Também não o era em questões de energia e política externa, como vimos nas guerras pelo petróleo no final do século e na dependência do gás russo, e continua a ser observado nos bombardeios de Gaza. Daqui em diante, a decadência europeia tende a se acentuar.
A Europa, ou melhor dito, seus antigos líderes apoiados em classes médias expansivas, apostou na interdependência pacífica com a Rússia oligárquica, no desenvolvimento econômico e no comércio, focando mais no balanço de pagamentos, nas mudanças climáticas e nos imigrantes do que na dissuasão militar. Um gasto armamentista reduzido revelou sua vontade de não combater. No entanto, sua superioridade econômica foi se desgastando rapidamente devido a causas demográficas e tecnológicas. Atualmente, a população envelhecida da Europa representa apenas 7% da população mundial, quando em 1900 era 25%, e continua a diminuir. Por outro lado, China e as potências emergentes como a Índia recuperaram o descompasso tecnológico que tinham. Elas não se limitam mais a importar e copiar tecnologias, como quando eram a “fábrica mundial”, mas passaram a liderar o setor, incluindo áreas como inovação, defesa e aeronáutica. Finalmente, a produtividade similar fez com que o peso econômico de um país, e consequentemente sua influência política, dependesse cada vez mais do volume populacional. Nesse aspecto, o Oriente, com sua imensa população, superava amplamente a Rússia, a União Europeia e a América do Norte juntas. De fato, após anos de crescimento do Produto Interno Bruto muito acima dos Estados Unidos e da Europa, em 2014 a China ultrapassou os Estados Unidos em capacidade de compra. Também o fez em recursos estratégicos. Desde então, encontramos um cenário internacional marcado pelas tensões e equilíbrios de poder entre as duas potências predominantes e seus respectivos aliados: uma em ascensão, ao redor da qual orbita a Rússia, e a outra em declínio. As escaramuças comerciais entre China e Estados Unidos, ou o cinturão de segurança no Pacífico, são apenas a ponta do iceberg. Dentro de um quadro global, qualquer conflito que ultrapasse os limites locais, como a guerra na Ucrânia, é, acima de tudo, uma confrontação delegada entre essas duas potências. A OTAN, os oligarcas ucranianos, o Irã, o Estado gendarme russo e até os norte-coreanos são os atores desse drama, mas nem o roteiro nem o final foram escritos por eles.
Na atual fase da globalização, o poder é visivelmente o elemento básico das relações internacionais, e, por isso mesmo, a geopolítica adquire uma relevância predominante. A política externa dos grandes Estados se torna inteiramente geoestratégica e o conceito de “inimigo” retorna com mais força. Dado o fim da hegemonia incontestável dos Estados Unidos, cada potência busca o equilíbrio de poder suficiente, acumulando meios de combate e estabelecendo alianças para assegurar suas áreas de influência. Claro, sem se abster de uma intervenção militar, se necessário, o que torna esse equilíbrio problemático, pois as demais potências, a fim de não se desestabilizarem, agirão de forma correspondente. Essa é a causa mais verdadeira da guerra na Ucrânia, que, ao destruir o sistema de segurança do período pós-Guerra Fria, colocou a Europa no eixo central da geopolítica, marcou o retorno da Rússia como aspirante a potência mundial e desencadeou uma preocupante corrida armamentista. Até então, os governos europeus haviam buscado o equilíbrio de poder por meio da multiplicação de vínculos econômicos, diminuindo os gastos militares e se concentrando na chamada “transição energética”, ou seja, no capitalismo “verde”. Tal estratégia, de origem alemã, culminou em uma dependência arriscada do petróleo e gás natural russos, e uma dependência ainda maior do mercado de painéis solares, aerogeradores, baterias, veículos elétricos, etc., dominado pela China. Nesse contexto, o alarmismo climático dos governos europeus, especialmente os social-democratas, é pura retórica, uma vez que, na prática, se consome cada vez mais combustível fóssil a cada ano, a energia nuclear encontra mais partidários e as cúpulas do clima nunca chegam a um consenso sobre as medidas essenciais. A mudança estratégica para a qual a União Europeia foi arrastada pela guerra é ainda mais perigosa, pois, mais do que na eletrificação, se baseia na militarização.
A fase atual mencionada se apoia em uma verdadeira economia de guerra, intimamente relacionada com as indústrias nuclear, armamentista e aeroespacial, e, subsidiariamente, no controle social da população. Essas atividades representam 12% do PIB e, nos tempos atuais, são o motor da economia, a ponto de alguns analistas apontarem os gastos militares como o melhor meio de sustentar a taxa de lucro do capital. Na Espanha, o aumento desses gastos para 2% do orçamento estatal pode acabar deslocando o turismo de massas como o principal propulsor econômico, algo com o qual mais da metade do eleitorado está de acordo. Uma ministra do governo socialista afirmou com total sinceridade que “investir em defesa é investir em paz”, o que equivale a dizer “se você quer paz, se prepare para a guerra”, o que deixa claro o alinhamento do pacifismo governamental com o mais tradicional otanismo. A realidade é que, no cenário mundial conflituoso, sem uma potência dominante clara, a guerra é uma necessidade. Ela é o principal fator de pacificação interna e o maior estímulo para a economia, embora os beneficiados em sua maior parte sejam as corporações e fundos multinacionais. Enquanto isso, as dificuldades em relação aos preços de energia, alimentos, transporte e habitação afetam os bolsos das classes médias e populares. Dadas essas circunstâncias, todas as condições estão presentes para um amplo questionamento do sistema, mas, surpreendentemente, ele surge principalmente no campo da direita política radicalizada. O parlamentarismo democrático perdeu sua legitimidade aos olhos de uma população frustrada em suas expectativas e decepcionada com seus representantes. Nem o progressismo esquerdista pós-moderno nem o ecologismo subvencionado escapam desse descrédito, estando ambos muito ligados à ordem neoliberal para combatê-la, e sendo muito ambíguos em suas declarações para serem confiáveis. A extrema-direita, que apela menos à razão do que seus homônimos da esquerda, conecta-se mais eficazmente com as classes “lepenizadas”, céticas com as versões oficiais repetidas incessantemente pelos meios de comunicação, desencantadas com a política e furiosas com um futuro adverso, mas bastante sensíveis às pragas emocionais propagadas pelas redes sociais, através dos algoritmos das multinacionais correspondentes.
De fato, as dificuldades econômicas das classes fragilizadas e as desigualdades acentuadas pela globalização eclipsaram a esquerda cidadanista e abriram caminho para uma corrente política nacionalista, xenófoba e racista, que defende a construção de barreiras aduaneiras à livre circulação de mercadorias, pessoas e capitais, e que encontra nos imigrantes seu bode expiatório. Protecionista, antiliberal, populista e contrária à guerra, como o esquerdismo clássico, essa corrente não esconde suas críticas à OTAN, sua hostilidade em relação a acadêmicos, intelectuais e jornalistas, seu repúdio ao sistema de partidos e sua preferência por regimes autoritários, como a Rússia de Putin. Para ela, o Estado é o grande fornecedor de bem-estar e prosperidade, desde que sua gestão favoreça os empresários e trabalhadores autóctones, a pátria e a família. O triunfo de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas, que sinaliza um selo isolacionista para as políticas do país, favorecerá ainda mais os avanços dessa facção, que já conta não apenas com partidos de peso e um quarto dos assentos no parlamento europeu, mas também com chefes de governo. Ideologicamente confusa, sua crença é uma mistura de negacionismo climático, gestos beligerantes e valores conservadores ou esquerdistas invertidos (antifeminismo, transfobia, antiabortismo, antivacinas, casticismo linguístico, fundamentalismo religioso). Na realidade, não se pode negar que a filosofia pós-moderna nas mãos da esquerda, ao demolir os critérios de verdade, razão e universalidade e inundar o discurso midiático de correção política e fraseologia vazia, contribuiu tanto para o desenvolvimento da extrema-direita quanto para a crise de 2008, a profissionalização da política, a corrupção, as genuflexões dos sindicatos, a informação unilateral dos meios de comunicação e sua contrapartida, a indústria de fake news, o desmoronamento do tecido social e a alta tecnologia. A extrema-direita oferece uma alternativa que, por mais aberrante que seja – e não é mais aberrante do que a que oferecem a esquerda e a direita liberais –, encontra eco em amplos setores da população prejudicada, irritada e predisposta.
O panorama futuro aponta para um estancamento da economia e uma queda nas investigações, o que levará à inflação, que, somada às inovações tecnológicas, afetará negativamente a população assalariada. Além disso, há uma expectativa de fracasso da descarbonização capitalista, o que resultará em uma maior dependência dos combustíveis fósseis externos. Previsivelmente, os Estados Unidos podem adotar uma postura patriótica e protecionista, com um possível reaproximamento com a Rússia, mais reestalinizada do que nunca, mantendo apoio a Israel e com um final incerto para a guerra na Ucrânia. As tensões geopolíticas aumentarão, principalmente com o Irã e a China.
A União Europeia, cuja “transição ecológica” depende da China, enfrentará a necessidade de gastar mais com armamentos, o que afetará os serviços públicos e a estabilidade interna, sem evitar o agravamento do seu declínio. O discurso de dominação será mais catastrofista, focado na imigração, no aquecimento global e nas guerras, temas que são atualmente ideais para desviar a atenção de questões como a poluição, o agronegócio e a destruição do território. E, acima de tudo, esse discurso servirá para atemorizar a população, paralisando-a, algo que funcionou bem durante a pandemia.
Pode-se dizer que estamos em um impasse histórico, inaugurando um período de incerteza prolongada, onde qualquer saída, boa ou ruim, é possível. É difícil imaginar uma saída revolucionária, mesmo que venha de uma evolução por etapas, mas tudo dependerá da orientação internacionalista e antiestatal das forças sociais que, por necessidade, terão de se mobilizar.