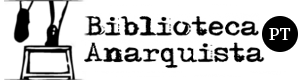Ela não possui direitos autorais pode e deve ser reproduzida no todo ou em parte, além de ser liberada a sua distribuição, preservando seu conteúdo e o nome do autor.
Miguel Amorós
O Que é Anarquismo?
É uma doutrina, uma ideologia, um método, um ramo do socialismo, uma linha de conduta, uma teoria política? A resposta, a princípio, é fácil: anarquismo é o que pensam e fazem os anarquistas e, em geral, aqueles que se definem como inimigos de toda autoridade e imposição. Aqueles que, por diversos caminhos, muitos realmente antagônicos, perseguem a “anarquia”, ou seja, uma sociedade sem governo, um modo de convivência social alheio às disposições autoritárias. O anarquismo não seria mais do que a maneira de realizar essa anarquia, que o geógrafo Reclús qualificou como “a mais alta expressão da ordem”. Em que consiste? As estratégias para alcançar um ideal fundamentado em uma negação são múltiplas e contraditórias, existindo várias versões desse conceito. Por isso, seria mais adequado falar em anarquismos, como, por exemplo, propõe Tomás Ibáñez. Se também considerarmos a situação histórico-social contemporânea, na qual o anarquismo já não é grande coisa, sendo apenas um símbolo de identidade juvenil e semiacadêmica, com pouca relação com suas épocas mais gloriosas e protegido de críticas sérias e objetivas, as definições poderiam se estender infinitamente. O anarquismo seria, então, uma espécie de saco cheio de fórmulas diversas etiquetadas como anarquistas. As portas ficam abertas a qualquer desvio, seja reformista, individualista, católico, comunista, nacionalista, contemplativo, místico, conspirativo, vanguardista, etc. Sobre a confusão bem-intencionada nos meios libertários resultante de tal diversidade, poderíamos concluir o mesmo que o autor ou autores do panfleto “Da miséria no meio estudantil” (1966) disseram sobre os membros da Fédération Anarchiste: “Essas pessoas toleram efetivamente tudo, já que se toleram entre si”. O panorama não é animador, pois, nos tempos atuais, a compreensão dos fenômenos sociais e das ideologias que os acompanham depende muito de pensá-los de forma adequada, ou seja, a partir da perspectiva proporcionada pelo conhecimento histórico. Ainda hoje, o anarquismo não carece de intelectuais honestos e competentes aptos para essa tarefa. No entanto, a característica mais comum dos anarquismos pós-modernos, que navegam na pós-verdade e rejeitam a coerência, é a recusa desse conhecimento. Além disso, segundo esse tipo de anarquismo, o passado deve ser reinterpretado a partir do presente, como um baú de recursos estéticos, em consonância com a normativa lúdica, a gramática transgênero e os hábitos gastronômicos ditados pela moda. O compromisso, além disso, é efêmero. Enfim, eis o anarquismo, salvo algumas exceções voluntariosas de núcleos sindicalistas, reduzido a um fenômeno de feira de livros. Nós, que navegamos na direção contrária, tentaremos explicar essa constante aspiração a uma organização social sem governo, portanto sem Estado e sem autoridade separada, remetendo-nos às suas origens nos setores radicais das revoluções populares do século XIX.
A princípio, devemos superar a mania de alguns ideólogos anarquistas, começando por Kropotkin, Reclus, Rocker e o historiador Nettlau, de encontrar ancestrais do anarquismo em todos os momentos da história e em todos os lugares. Sob essa perspectiva, o anarquismo não seria uma ideia nova, mas algo tão antigo quanto a humanidade, perene, eterno, inscrito no ser biológico da espécie humana. Assim, seriam considerados anarquistas Diógenes, o Cínico, Zenão, o Estoico, Lao-Tsé, Epicuro, Rabelais, Montaigne ou Tolstói. Traços libertários seriam encontrados nas comunas medievais, nos Diggers ingleses, no liberalismo filosófico de Spencer e Locke, na obra política de Stuart Mill e William Godwin, ou em qualquer alteração da ordem estabelecida. Não temos objeções a isso, mas denunciamos a tentativa latente, presente nessa abordagem anti-histórica, de fabricar uma ideologia interclassista e negar ao movimento operário seu papel decisivo na gênese das ideias anarquistas. Isso teve efeitos desastrosos na prática antiautoritária. Os promotores e defensores dessa tese tentavam transcender a realidade social não por meio de intervenções práticas na esfera político-social, mas através da propaganda, com um intenso esforço de educação de massas que pudesse gerar uma evolução gradual da mentalidade popular para níveis elevados de consciência. Para os propagandistas educacionistas, sobretudo os mais imobilistas e acomodados — como, por exemplo, Abad de Santillán —, o anarquismo era simplesmente “um anseio humanista”, a nova denominação de “uma atitude e uma concepção humanista básica”, uma doutrina não específica nem concreta, um vago ideal ético que sempre existira, presente em qualquer classe social e que — como acrescentava Federica Montseny — havia encontrado na Península Ibérica a tradição, o temperamento racial e o amor feroz pela liberdade em maior abundância do que em qualquer outro lugar. No prólogo de um livro do estatalista Fidel Miró, Santillán dizia com calculada ambiguidade que “o anarquismo pretende a defesa, a dignidade e a liberdade do homem em todas as circunstâncias, em todos os sistemas políticos, de ontem, hoje e amanhã […] não está ligado a nenhum tipo de construção política, nem propõe sistemas que os substituam”. Assim, não se tratava de um projeto homogêneo, mas plural, híbrido, sobre cujos fundamentos, fins e estratégias de realização, se acreditarmos no suspeito Gaston Leval, que propunha dar uma “base científica” ao anarquismo, reforçando o realismo “construtivo” em política e economia, não havia nenhum acordo “entre os teóricos mais capazes dessa área” (“Precisiones del Anarquismo”, 1937). As especulações dos maiores referentes do anarquismo ortodoxo na Espanha de 1936 desembocavam nos tópicos do liberalismo político, o que é compreensível, tal como ilustrado pela extrema adaptabilidade de suas convicções aos princípios e às instituições burguesas republicanas.
Rudolf Rocker via o anarquismo como a confluência de duas correntes intelectuais impulsionadas pela Revolução Francesa: o socialismo e o liberalismo. Vale ressaltar que uma era proletária, a outra, burguesa. No entanto, essa confluência não constituía um sistema social fixo, mas “uma tendência clara do desenvolvimento da humanidade que [...] aspira a que todas as forças sociais se desenvolvam livremente na vida” (“El anarcosindicalismo. Teoría y práctica”). Albert Libertad, o editor da revista individualista L’Anarchie, não se conformava com isso: “Para nós, o anarquista é aquele que venceu dentro de si as formas subjetivas de autoridade: religião, pátria, família, respeito humano ou o que seja, e que não aceita nada que não tenha passado pelo crivo de sua razão tanto quanto seus conhecimentos lhe permitirem”. A anarquia não poderia ser mais do que “a filosofia do livre exame, a que não impõe nada pela autoridade, e que busca provar tudo pelo raciocínio e pela experiência”. Para Sebastián Faure, a anarquia “como ideal social e como realização efetiva, responde a um modus vivendi no qual, despojado de toda sujeição legal e coletiva que tenha a seu serviço a força pública, o indivíduo não terá mais obrigações do que aquelas que sua própria consciência lhe impuser”. Seu amigo Janvion declarava que o anarquismo era “a negação absoluta da autoridade do homem sobre o homem”; Emma Goldman foi mais longe consagrando o indivíduo como medida de todas as coisas: “O anarquismo é a única filosofia que devolve ao homem a consciência de si mesmo, a qual mantém que Deus, o Estado e a Sociedade não existem, que são promessas vazias e sem valor, pois podem ser alcançadas apenas através da submissão do homem”. Embora de forma abstrata, aludia a temas como produção e distribuição, sem concretizá-los. Em seu livreto Anarquismo. O que significa realmente, dizia: “Anarquismo é a filosofia de uma nova ordem social baseada na liberdade sem restrições, a teoria de que todos os governos descansam sobre a violência e, portanto, são equívocos e perigosos, assim como desnecessários [...] Representa uma ordem social baseada na associação livre de indivíduos com o objetivo de produzir riqueza social, uma ordem que garantirá o livre acesso à terra e o pleno gozo das necessidades da vida…” Soledad Gustavo afirmou sucintamente que a anarquia era “a genuína expressão da liberdade total” e Federica, que não se esquecia de seu público operário, pontuou o dito por sua mãe: “O anarquismo é uma doutrina baseada na liberdade do homem, no pacto ou livre acordo deste com seus semelhantes, e na organização de uma sociedade na qual não devem existir classes nem interesses privados, nem leis coercitivas de qualquer espécie” (“¿Qué es el anarquismo?”). Vendo a prática federiquista da ideia, José Peirats se perguntava em seu pequeno dicionário do anarquismo se a anarquia “é uma ideia enquadrável no receituário político revolucionário ou é uma massa vaporosa que se dilui ao tentar apreendê-la?” Temia que não fosse mais que “um princípio diluído”, uma consigna etérea, e não, como dizia sua apreciada Emma, “a conclusão à qual chegaram muitos homens e mulheres resolutos pelas observações detalhadas das tendências da sociedade moderna”, ou, em palavras de Èlisée Réclus, “o fim prático, buscado ativamente por multidões de homens unidos colaborando resolutamente no nascimento de uma sociedade onde não haja senhores…”
Apesar do papel crucial inegável das massas anarquistas nas revoluções do século passado, por mais que busquemos na literatura anarquista clássica, poucas serão as referências que encontraremos sobre a revolução como meio para transformar a sociedade. Devido às implicações violentas que forçosamente contêm, elas entravam em contradição com os postulados pacifistas da ideologia, que, não esqueçamos, muitas vezes é apresentada como um ideal ético, não impositivo; ou como uma rebelião moral (Malatesta), uma subjetividade liberada (Libertad), “uma conduta dentro de qualquer regime” (Alaiz). Os alardes revolucionários eram próprios dos homens de ação, cujo paradigma é Bakunin, mais interessados em derrotar o bando opressor da reação do que em edificar uma utopia operando a partir da escrivaninha segundo pautas imaculadas. Estes viam a ação principalmente como luta, combate, confronto, e não como pedagogia ou experimento. No entanto, o epíteto de “anarquista” foi historicamente utilizado para qualificar o que as facções conservadoras viam como excessos revolucionários. Durante a Revolução Inglesa, apareceu pela primeira vez de forma pejorativa contra os “Niveladores” e qualquer um que alterasse a ordem estabelecida e não reconhecesse o poder dominante, particularmente a hierarquia eclesiástica (era sinônimo de radical, ateu ou anabatista). Na Revolução Francesa, os republicanos moderados chamavam de anarquistas todos aqueles que queriam continuar o processo revolucionário, em vez de interrompê-lo, como os jacobinos, os enragés e os hebertistas. No fim, quem primeiro se definiu como anarquista, de forma positiva, foi Pierre-Joseph Proudhon em sua célebre obra O que é a propriedade? e chamou a anarquia de “a ausência de senhores e soberanos, a forma de governo à qual nos aproximamos”. Foi também o primeiro a reivindicar a classe operária como uma força social autônoma, oposta à burguesia. Em outras questões, foi muito menos inovador. Logo depois, Anselme Bellegarrigue, em seu Manifesto de 1850, afirmou que “a anarquia é a ordem, o Estado é a guerra civil”. Nettlau nos apresentou a outros revolucionários ativos desde a metade do século XIX, partidários de um socialismo sem chefes: Joseph Déjacque, Coeurderoy, Pisacane, César De Paepe, Eugène Varlin, Ramón de la Sagra... que bem poderíamos considerar anarquistas, embora não usassem esse termo. Portanto, não estaremos errados ao definir o anarquismo como uma corrente antiautoritária do socialismo revolucionário, produto intelectual da incipiente luta de classes típica da sociedade capitalista nas primeiras fases da industrialização. Na correspondência de Proudhon, encontramos a formulação do ideal mais completo: “Anarquia é uma forma de governo ou constituição onde a consciência pública ou privada, moldada pelo desenvolvimento da ciência e do direito, é suficiente por si só para manter a ordem e garantir todas as liberdades; onde, consequentemente, o princípio de autoridade, as instituições de polícia, os meios de prevenção ou repressão, a burocracia, os impostos, etc., são reduzidos à sua expressão mínima; onde, com maior razão, as formas monárquicas e a alta centralização desaparecem e são substituídas por instituições federativas e costumes comunitários”.
A Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) foi um marco na organização do proletariado, pois lhe deu objetivos não apenas econômicos, mas também políticos. No entanto, os confrontos entre as diferentes facções que a compunham provocaram seu declínio. Durante o breve e intenso período da AIT, Bakunin soube transformar o socialismo libertário ainda pouco desenvolvido em uma teoria política coerente e revolucionária. Os ventos estavam a favor da revolução social, e Bakunin, com um vasto conhecimento histórico e filosófico, não fez mais do que traduzi-los em ideias práticas. A classe trabalhadora era o sujeito da revolução e, portanto, o motor do antiautoritarismo, necessitando delinear estratégias diferenciadas do reformismo socialdemocrata característico da tendência marxista. O conceito de anarquia retomava seu sentido original de tumulto destruidor, mas sob uma ótica criativa. Para Bakunin, a anarquia era “a manifestação irrestrita da vida libertada dos povos, de onde devem surgir a liberdade, a justiça, a nova ordem e a própria força da revolução”. Assim, anarquia era a explosão descontrolada das paixões populares que, vencendo os obstáculos da ignorância, da submissão e da exploração, seriam direcionadas para a destruição de todas as instituições existentes. No Congresso de Saint-Imier de 1872, Bakunin conseguiu que fosse votada uma de suas propostas: “A destruição de todo poder político é o primeiro dever do proletariado”. Ao contrário dos ideólogos posteriores, Bakunin não se interessava por descrever a nova sociedade em suas diferentes facetas. Para ele, ela seria “uma sociedade natural que apoiaria e reforçaria a vida de todos”, e consistiria em “uma organização nova que não tivesse outra base senão os interesses, as necessidades e as inclinações naturais dos povos, nem outro princípio senão a federação livre dos indivíduos nas comunas, das comunas nas províncias, das províncias nas nações, e, finalmente, dessas nos Estados Unidos da Europa, primeiro, e mais tarde, no mundo todo”. (Programa dos Irmãos Internacionais.)
As cisões e expulsões na Internacional, a derrota da Comuna de Paris, o esmagamento das revoltas internacionalistas na Espanha, o fracasso da insurreição camponesa na Itália e as perseguições subsequentes quebraram o ímpeto do movimento operário, que ficou reduzido a pequenos círculos dedicados principalmente à difusão das ideias. Nisso se destacaram Kropotkin, Reclus, Malatesta e seus companheiros. A morte de Bakunin significou o quase desaparecimento de seu legado teórico. Nenhum de seus seguidores jamais leu Hegel, Fichte, Feuerbach ou Comte, e poucos se entreteram com Babeuf, Weitling ou Proudhon. Nesse período pós-revolucionário, generalizou-se o termo “anarquista” e foi construída propriamente uma ideologia separada, exterior às classes oprimidas, a quem se deveria ensinar por meio da propaganda doutrinária e da exemplificação do comportamento. Não constituía propriamente um sistema, como no caso do marxismo. Além disso, a elevação de Godwin, Tolstoi, Thoreau e Stirner — autores nada partidários das revoluções — ao panteão ideológico adicionou elementos conflitantes à reflexão ideológica. Desenvolveram-se correntes subalternas, frequentemente confrontadas e incompatíveis: as que priorizavam a sociedade futura ao presente, o comunismo (a cada um conforme suas necessidades) ao coletivismo (a cada um conforme seu trabalho), o comunalismo ao individualismo, a organização à espontaneidade, a reflexão à ação, o pacifismo à violência, a propaganda à expropriação ou atentado, a legalidade à clandestinidade, o partido político à associação econômica, etc. Era tanta a confusão que um intelectual próximo, Octave Mirbeau, registrou que “os anarquistas têm as costas largas; assim como o papel, aguentam tudo”. Para outros, indiferentes à substância tanto quanto à ação, tudo era anarquismo. O principal era a finalidade; os meios, muitas vezes contraditórios com ela, eram secundários. Tárrida del Mármol inventou o “anarquismo sem adjetivos”, com o qual a expressão verdadeira do movimento proletário revolucionário, refletida na obra de Bakunin e na Internacional antiautoritária, seria sacrificada no altar das interpretações doutrinárias, nebulosas e sectárias da realidade. O anarquismo como ideal de uma sociedade emancipada e, ao mesmo tempo, como método de ação, simples variante do socialismo revolucionário, não parecia ser suficiente. Gustav Landauer quis voltar à base ao escrever: “Anarquismo é a finalidade que perseguimos, a ausência de dominação e de Estado; a liberdade do indivíduo. Socialismo é o meio pelo qual queremos alcançar e assegurar essa liberdade”. Por outro lado, o príncipe Kropotkin propôs ordenar o corpus teórico anarquista, buscar uma base filosófica distinta da bakuniniana, dotá-lo de raízes biológicas, fixar o comunismo libertário como objetivo final e propagar um otimismo cientificista que enraizou-se mais do que qualquer outra coisa nas massas oprimidas. Foi o autor mais lido e mais influente na história do anarquismo.
Kropotkin remodelou o anarquismo como uma filosofia materialista, cientista, evolucionista, ateia e progressista, culminando com uma ética que não chegou a concluir. Os filósofos ingleses e as descobertas científicas do século XVIII, e naturalmente Darwin, lhe forneceram o material sobre o qual construiu seu edifício ideológico, onde o progresso científico adquiriu status de força determinante, em vez da luta de classes. Em seu folheto “A ciência moderna e o anarquismo”, ele dizia: “O anarquismo representa uma tentativa de aplicação das generalizações obtidas pelo método dedutivo-indutivo das ciências naturais para a apreciação da natureza das instituições humanas, assim como a previsão, com base nessas apreciações, dos aspectos prováveis no futuro da humanidade rumo à liberdade, à igualdade e à fraternidade”. Em outro trecho, ele insistia no mesmo: “O anarquismo é uma concepção do universo baseada na interpretação mecânica dos fenômenos que abrangem toda a natureza, sem excluir a vida em sociedade”. Em seu artigo para a Enciclopédia Britânica, Kropotkin se manteve clássico e definiu o anarquismo como “um princípio ou teoria da vida e da conduta que concebe uma sociedade sem governo, na qual a harmonia não é alcançada pelo cumprimento da lei, nem pela obediência à autoridade, mas por acordos livres estabelecidos entre os diferentes grupos, territoriais e profissionais, livremente realizados para a produção e o consumo, e para a satisfação da infinita variedade de necessidades e aspirações de um ser civilizado”. Carlo Cafiero, companheiro de Bakunin, tinha uma concepção mais dinâmica do anarquismo: “A anarquia, atualmente, é uma força de ataque; sim, é a guerra à autoridade, ao poder do Estado. Na sociedade futura, a anarquia será a garantia, o obstáculo ao retorno de qualquer autoridade, de qualquer ordem, de qualquer Estado”. Anarquia e comunismo estavam unidos, como a exigência de liberdade e a demanda de igualdade (“Anarquia e comunismo”, 1880). Apesar disso, a distinção metafísica entre o comunismo libertário e a anarquia propriamente dita, feita por alguns doutrinários, levou a novas precisões. Para Carlos Malato, um discípulo, a anarquia era o complemento do comunismo, “um estado em que a hierarquia governamental seria substituída pela livre associação dos indivíduos e das associações; a lei imperiosa para todos e de duração ilimitada, pelo contrato voluntário; a hegemonia da fortuna e do status, pela universalização do bem-estar e a equivalência das funções, e por último, a moral presente, de hipocrisia feroz, por uma moral superior que emanaria naturalmente da nova ordem das coisas” (“Filosofia do Anarquismo”). Note-se a ausência de qualquer indicação sobre como alcançar esse paraíso da liberdade, a forma como a ação cotidiana, e não apenas a perspectiva revolucionária, era deixada de lado. Agitadores como Pelloutier e Pouget perceberam perfeitamente o perigo da indefinição metodológica relacionada à luta diária e convidaram os anarquistas a entrar nos sindicatos.
Malatesta escolheu um caminho intermediário que, além da greve, incluía a insurreição, e além do sindicato, levava em consideração outros fatores de luta. Nas páginas de “La Protesta” (Buenos Aires), referiu-se à sociedade futura como “uma sociedade racionalmente organizada na qual ninguém tenha os meios para submeter e oprimir os outros”. E definiu o anarquismo como “o método para alcançar a anarquia pela via da liberdade, sem governo, sem que ninguém – até mesmo alguém de boas intenções – imponha aos outros sua vontade”. Ele derivava isso de um único princípio: o amor à humanidade. De acordo com a concepção humanista malatestiana, era-se anarquista mais por sentimento do que por convicção racional, portanto, a filosofia e a ciência tinham pouco a ver. Tampouco o desenvolvimento histórico ou as condições econômicas. Era uma questão de vontade. Qualquer um poderia ser anarquista, independentemente de suas crenças filosóficas ou conhecimentos científicos; bastava querer ser. Ele mesmo se declarava anarcocomunista. No que se referia à anarquia, no folheto de mesmo nome, a descrevia como “o estado de um povo que se rege sem autoridade constituída”, “uma sociedade de homens livres e iguais fundada na harmonia dos interesses e na colaboração voluntária de todos, a fim de satisfazer as necessidades sociais”. Ao longo de sua vida, Malatesta teve de falar muito sobre o ideal, sobre a anarquia, “uma sociedade fundada no acordo livre, onde cada indivíduo pudesse alcançar o máximo desenvolvimento possível”, a qual não distinguia do comunismo libertário: “a organização da vida social através de associações e federações livres de produtores e consumidores”. Em seus últimos escritos, confirmou o que vinha dizendo ao longo de sua vida: “Anarquia é uma forma de convivência social na qual os seres humanos vivem como irmãos, sem que ninguém oprima ou exploda os outros, e todos tenham à sua disposição os meios que a civilização da época oferece para alcançar o mais alto nível de desenvolvimento moral e material”. Contrariamente à maioria dos propagadores do ideal, Malatesta insistia que o modo de alcançar a anarquia passava pela organização dos anarquistas em torno de um programa, recorrendo ao arsenal revolucionário para abolir o Estado e “toda organização política fundada na autoridade”. Os meios deveriam estar em consonância com os fins. Se estes eram revolucionários, aqueles também deveriam ser.
A militância anarquista nos sindicatos deslocou a ação coletiva para a esfera da economia, afastando-se ainda mais da política. A semeadura do ideal entre os explorados gerou um filho espiritual: o sindicalismo revolucionário. A Carta de Amiens, de 1906, sua carta de nascimento, consagrava a função primordial do sindicalismo, não apenas na luta por melhorias trabalhistas, mas na preparação “para a emancipação integral, que só pode ser alcançada através da expropriação capitalista; defende a greve geral como meio de ação e considera que o sindicato, hoje grupo de resistência, será no futuro o grupo de produção e distribuição, base da organização social”. Para evitar equívocos, um dos principais teóricos desse tipo de sindicalismo, oposto ao sindicalismo político e reformista, Pierre Besnard, se referia ao sindicato como “a forma orgânica que a Anarquia adquire para lutar contra o capitalismo”. Na Espanha, país onde o movimento operário estava mais vinculado ao anarquismo, Salvador Seguí concretizou que o sindicato era “a arma, o instrumento do anarquismo para levar à prática o mais imediato de sua doutrina.” Assim, era mais congruente falar de anarcosindicalismo, segundo Rocker, outro teórico e fundador da AIT de 1923, como “o resultado da fusão do anarquismo e da ação sindical revolucionária”. Após a adesão de Kropotkin e outros quinze ao lado aliado na Primeira Guerra Mundial, os anarquistas não tiveram outra opção senão exacerbar seu antimilitarismo, e a confederação sindical era a organização de massas mais adequada para tirar do buraco metafísico e guerreiro as ideologias anarquistas. Objetivos econômicos concretos, como a abolição dos monopólios, a expropriação da terra e dos meios de produção, o trabalho coletivo, a distribuição socialista, a supressão do salário e do dinheiro, etc., deslocaram progressivamente a retórica liberal e os lugares comuns do individualismo na propaganda “da ideia”. Infelizmente, outros temas, como a influência magonista no campesinato mexicano, o Conselho Operário como organização de classe na revolução alemã, o esmagamento do anarquismo na Rússia — particularmente a derrota do movimento insurrecional makhnovista — ou as cisões bolchevistas no movimento operário anarquista da América Latina, tiveram muito pouca presença na imprensa libertária e sindicalista. O anarquismo pôde sobreviver como movimento graças à sua conexão com os trabalhadores, mas, salvo na Espanha, não conseguiu força suficiente para resistir ao avanço do fascismo.
Na década de 1920, reinava uma guerra encoberta entre os anarquistas sindicalistas, comunistas e individualistas, que bloqueava qualquer tentativa de organização específica. O remédio proposto pelos exilados makhnovistas, a “plataforma Archinov”, foi pior do que a doença. Uma organização semelhante a um partido político gerava muitos receios para abrir caminho nos grupos anarquistas. Sébastien Faure propôs uma organização de “síntese”, com a qual as coisas permaneceram como estavam. Foi mais um pacto de não agressão, uma suavização do ambiente enrarecido, no estilo anarquismo “sem adjetivos”. Sua definição de anarquismo estava à altura de sua proposta: “é a expressão mais alta e mais pura da reação do indivíduo contra a opressão política, econômica e moral que todas as instituições autoritárias impõem sobre ele, e, por outro lado, a afirmação mais firme e precisa do direito de todo indivíduo ao seu desenvolvimento integral pela satisfação das necessidades em todos os campos”. (“A Síntese anarquista”.) Mas as discussões, mais ou menos banais, nunca abandonaram o meio libertário. As polêmicas em torno da legalidade e do pacifismo foram constantes. Os conflitos bizantinos entre os puristas do comunismo e os “liberais exasperados” (como Georges Darien disse) também não deixaram de acontecer. A ideologia tendia a suas armadilhas. Muitas vezes, formavam-se seitas, insistia-se em detalhes secundários e aspectos periféricos, apostava-se no ego em reuniões que se prolongavam até o tédio, erguia-se princípios com intenções paralisantes, boicotava-se a organização acusando-a de opressora, qualificava-se como autoritário qualquer acordo vinculante e como inútil qualquer reflexão histórica... Havia muito embaraço mental, muito narcisismo, muitos dogmas doutrinários e fórmulas vazias, que, por volta dos anos 30, levariam o anarquismo ao naufrágio. Na realidade, esse tipo de anarquismo detestava a ação e se contentava com simulacros. Foi necessário que Camilo Berneri aparecesse para denunciar (em “L’Adunata dei Refratari”) o que chamou de “cretinismo anarquista” e se dedica-se a tratar criticamente a realidade social, a fim de tornar inteligível a época — o anarquismo incluído — condição prévia para tentar mudá-la. Lógica e prudentemente, ocupou-se pouco com a posteridade (“a anarquia é religião”, chegou a dizer) e mais em dar respostas reais a problemas concretos, fossem ou não em choque com a ortodoxia. Falou provocativamente de um “Estado libertário” ao mostrar a anarquia real como uma estrutura administrativa federal totalmente descentralizada. Seus trabalhos sempre trataram de problemas específicos ou questões teóricas urgentes, nunca ou quase nunca de princípios ou finalidades. Infelizmente, não houve muitos como ele. O assassinato de Berneri, em maio de 1937, privou o anarquismo de sua mente mais lúcida.
A Guerra Civil Espanhola foi ao mesmo tempo o ponto culminante do anarquismo (as milícias, os comitês antifascistas, a socialização) e o abismo pelo qual se precipitou (a ideia de que as conquistas revolucionárias se defendiam melhor retrocedendo). Muitas figuras veneradas se calaram, até se mostraram compreensivas com o “circunstancialismo” da burocracia dirigente da CNT-FAI. A verdadeira cisão do anarquismo ocorreu entre os incondicionais da política colaboracionista da direção comitê e os críticos solidários com os anarquistas espanhóis. Após a vitória de Franco, a ideologia não poderia retornar à arena ibérica como se nada tivesse acontecido, a menos que seus adeptos fizessem antes um inventário da revolução falhada e do monstruoso anarquismo de Estado que as capitulações de 1936–37 geraram. Não o fizeram, e até hoje se pagam as consequências. Apesar de tudo, o esgotamento histórico do anarquismo, tal como podia ser concebido nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, não significou a morte do ideal, mas a impossibilidade de sua reformulação passadista. Por exemplo, a confiança kropotkiniana na ciência e a fé no progresso moral são inassumíveis. O sindicalismo à moda antiga ficou fora de jogo. As visões futuristas do anarquismo de outras épocas hoje se revelam tremendamente pueril. Com a dissolução do movimento operário tradicional e a penetração do capital em todos os recantos da vida, o anarquismo ressurge, menos como ideologia pós-moderna e mais como um estado de ânimo difuso, voltado para o feminismo, o meio ambiente de trabalho, a vida rural, o antidesenvolvimentismo, a cultura popular e o ensino alternativo. Nesses terrenos, o anarquismo terá que se coordenar, encontrar novas modalidades práticas de combate anticapitalista e desenvolver as armas teóricas para confrontar a reação identitária, com suas ideias nefastas sobre o poder e a verdade, o gênero e o sexo, a religião e a raça, a linguagem e a comida; com sua essencialização das diferenças, seu antiuniversalismo, seu relativismo, seus inimigos fictícios, sua tecnofilia… A não ser que prefira se afundar na confusão dos credos irracionais e sectários que, para piorar o confusionismo, também se autodenominam anarquistas, embora não o sejam.