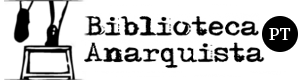Cello Latini Pfeil
Trans-anarquia
Transição como [pós-]anarquismo
PATOLOGIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL: UM ROMANCE INACABADO
A FRAGILIDADE DOS ANTAGONISMOS
TRANS-ANARQUISTAS CONTRA O ESTADO
SOBRE O DIREITO AO NOME E À AUTODEFESA
Cello Latini Pfeil[1]
Há algum tempo não me sentia à vontade para escrever sobre trans-anarquismo, pois não me considero um pesquisador sobre anarquismo, história do anarquismo ou teoria política anarquista. Diante de tantos que dedicam suas trajetórias de estudo a esse campo, não me percebo suficientemente capaz de fazer contribuições à altura. Contudo, desde que passei a me entregar à escrita como método terapêutico [e estratégia de sobrevivência], toda vez que sinto um incômodo, que me deparo com algo difícil de engolir, ou que não se traduz facilmente em palavras, recorro ao papel e à caneta [ultimamente, a um bloco de notas em meu celular].
Recentemente, tive a felicidade de assistir Orlando, o filme-documentário-autobiografia dirigido por Paul B. Preciado e inspirado no livro homônimo de Virgínia Woolf. Conheci Virgínia a partir do livro Como Esquecer – Anotações Quase Inglesas, de Myriam Campello, que se inicia com a indagação “O que diria Woolf disso tudo?”, e logo depois li Orlando. De alguma forma, Preciado conseguiu traduzir um sentimento que eu não havia reconhecido até então: a inclinação, ou a necessidade, acompanhada da possibilidade, de mudar os nomes de todas as coisas[2] – seria essa a metamorfose, o perigo de desafiar a língua, os nomes e o corpo; de destruir o mundo como o conhecemos e construir algo outro – não novo, não a partir de seus fragmentos, mas algo que reflita a diferença, que a deseje como necessária. A suposição de inadequação que se atrelou ao meu corpo pelo viés da patologia caminhou ao lado de meu contato inicial com literatura anarquista. O momento em que percebi as supostas incongruências que compõem minha corporalidade coincidiu com o encantamento com ideias que, em meu entendimento, já me constituíam.
E o incômodo que experimentei ao longo dessa trajetória somente se ampliou; o apagamento dos estudos trans ocorre ao lado do apagamento de saberes anarquistas [há algo na recusa tanto das normatividades de gênero como do poder do estado e da lógica do capital que atormenta as estruturas acadêmicas]. Esse incômodo trouxe consigo uma frustração – de um lado, organizações trans se tornam objeto de captura pelos braços do estado e do capital; de outro lado, organizações anarquistas/libertárias reproduzem, ainda que veladamente, as normatividades que buscam combater. Essa espécie de meio-termo entre se organizar autonomamente e, ao mesmo tempo, ter que recorrer a certos amparos institucionais é algo que me parece fatigável.
Precisamos lidar com certas instâncias, como escreve Elis L. Herman (2024), não somente dentro do movimento social, mas em nosso cotidiano, em cada consulta médica, em cada entrevista de emprego. É nítido o entrecruzamento de opressões que alimentam a transfobia institucional, seja em relação aos braços do estado, seja em relação à exploração capitalista ou às colonialidades (Maldonado-Torres, 2018). Ao nos aproximarmos de esferas combativas que se atentam para esses âmbitos, percebemos certa dificuldade de grupos e organizações anarquistas/libertárias em compreender questões sensíveis que atravessam as vivências trans. Como exposto na apresentação da revista trans-libertária (2024),
algo que percebemos em inúmeras coletividades – anarquistas, libertárias ou o que quer que sejam – é uma espécie de isolamento discursivo que nos impede, descaradamente ou não, de traduzir nossos incômodos em palavras. é um regime linguístico que não nos oferece vocabulário para designar o que sentimos, porque se espera que não interpretemos, que não falemos sobre, que nos contentemos com a fixidez de categorias que não dão conta de nossas existências, de nossos corpos e desejos. Nada mais justo, então, do que nos apropriarmos da linguagem e de criarmos a nossa própria. Mas como criar uma outra língua se nossa musculatura foi forjada nesse mundo violento?
Apesar de podermos traçar os entrelaçamentos entre movimentos por emancipação feministas, trans e queer e o anarquismo, Jeppesen & Nazar (2012) percebem uma cisão entre os anarquismos feministas/queer e um anarquismo supostamente cisheteronormativo [um anarconservadorismo, se me permitem], que não consideraria as questões de ‘identidade’ como relevantes para o movimento. Mas identitarismo não está nas transgressões de gênero, sexualidade e desejo, e sim na designação de sexo/gênero a um recém-nascido, em sua ‘humanização’ a partir e através da racialização, da generificação, em sua inscrição em uma linguagem que somente concebe como possível um tipo de corpo, ou que apenas adquire sentido quando submetida a uma lógica de vida produtivista e heterossexual. O regime de linguagem ao qual nos inserimos nos impele a universalizar um patamar de congruência, a ojerizar o desvio, a banalizar o aniquilamento.
Desde que conheci a ‘literatura anarquista’ pelos escritos de Bakunin, Goldman, Malatesta e outros que recusavam o título de clássicos, passei a reconhecer o teor político da incongruência de meu corpo. Aliás, não me incomodo em escrever sobre o corpo, pois penso ser disso que se trata: os limites do meu corpo, na medida em que materializam e discursivam aquilo que penso ser, configuram os sentidos de minha liberdade. Me refiro àquilo que me permito experimentar através do corpo, nele, para ele, com ele, diante dele, sobre ele, para além de modificações corporais – mas não seria qualquer transformação algo que inflige, de alguma forma, sobre o corpo? Constituindo-me como o corpo que sou, e [pre]figurando o corpo que almejo me tornar, transitei pelos citados incômodos na esperança de encontrar algum refúgio daquilo que me incomodava – por um lado, a institucionalidade e o assimilacionismo; por outro, as normatividades que se enraízam em nossas prefigurações.
Não se trata, então, de um apelo para que o anarquismo apenas acolha as nossas demandas e reconheça o teor libertário e combativo de nossas lutas. Trata-se, nas palavras de Barbosa (2022, p. 23), de “produzir estruturas concretas que acolham e possibilitem uma luta anarquista trans [...]”, ou seja, uma luta trans-anarquista.
PATOLOGIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL: UM ROMANCE INACABADO
O longo e intemperado caso entre patologização e violência institucional ocorre entre instâncias praticamente complementares. A patologização é uma forma de violência institucional e a institucionalidade se apoia na patologia para justificar sua legitimidade. Quem escutaria um louco? Psicanalistas, que a princípio se dispõem à função da escuta clínica, recuam quando a diferença, ou o Outro, começa a falar[3]. Ainda que a literatura anarquista não empregue as concepções de Outro e Outridade (Kilomba, 2019), seus argumentos rechaçam esse tipo de postura academicista e autoritária (Bakunin, 1975), e podem ser encontrados no que Elis L. Herman (2024) entende por literatura trans-anarquista[4]. Literatura trans-anarquista é definida por Herman como um conjunto de estudos que associam as transgeneridades à anarquia, ou à ontologia anarquista (Jourdan 2017), à recusa tanto do paradigma da representação como das dicotomias modernas sobre gênero e sexualidade. Ainda que não seja possível, nem de relance, associar uma espécie de essencialismo trans a uma espécie de essencialismo anarquista, é nítida a incoerência em se defender as vidas trans e, concomitantemente, hastear a bandeira nacional[5]; em defender a emancipação sexual e de gênero e, ao mesmo tempo, corroborar com a imperatividade do estado e do capital; ou em defender vidas negras, indígenas e periféricas e, por outro lado, legitimar a violência das forças armadas.
Embora seja tentador, Herman descarta a associação das transgeneridades ao anarquismo em termos essencialistas. A crítica de Bakunin aos universalismos científicos descarta de antemão essa sedutora associação. Contudo, Herman reconhece a transgressão e a subversão nas dissidências de gênero, bem como sua resistência histórica às violências do estado. Em suas palavras, “pessoas gênero-inconformes possuem uma rica história de resistência à opressão do estado” (2024, p. 290). Literaturas trans-anarquistas, por um lado, criticam o assimilacionismo dos movimentos trans [especialmente em relação a pinkwashing e pink money[6]] e, por outro, o conservadorismo de organizações anarquistas; e então, além de proporem que o anarquismo transicione (Branson, 2024) – considerando a transição como algo contínuo e inacabado –, trazem o fator da prefiguração como basal para nossas configurações de mundo. Ou seja, trans-anarquistas se esforçam para não cair na armadilha dos essencialismos, assim como das certezas, na medida em que se afastam da fixidez conceitual e da centralização do sujeito. Abandonar o sujeito moderno pode ser tido como algo fundamental em uma ontologia trans-anarquista. Esse abandono exige que desconfiemos dos saberes que nos inferiorizam. Em âmbito prático, isso significa repensar não apenas os modos como nos organizamos, mas os modos como nos compreendemos, e como compreendemos uns aos outros, em nossas coletividades.
Para escrever sobre trans-anarquismo, é importante tratar de um de seus focos de crítica – a cisnormatividade institucional, da qual insurgiram as primeiras definições institucionalizadas sobre transexualidade.
A PRODUÇÃO DOS ANTAGONISMOS
A biomedicina/psiquiatria europeia e norte-americana em meados do século XX foi caracterizada pelo emprego de várias terminologias para designar as transgressões de gênero. Após densas investigações conduzidas por médicos que almejavam descobrir a ‘verdade’ sobre o sexo, a transexualidade passou a ser definida, a partir da segunda metade do século XX, como uma categoria diagnóstica. Embora, anteriormente, estudos sobre gênero e sexualidade fossem recorrentes, somente na década de ‘60 a patologização se incorporou a manuais diagnósticos, e um dos marcos desse processo foi a publicação, em 1966, do livro O Fenômeno Transexual, do endocrinologista alemão Harry Benjamin. Em sua obra, Benjamin estabeleceu os critérios diagnósticos da transexualidade, geralmente associados a questões hormonais e anatômicas. Ainda nessa empreitada, em 1973, o sexólogo John Money cunhou o termo ‘disforia de gênero’, designando-o como o principal sintoma da transexualidade. Havia, por um lado, uma busca incessante e sistemática por veracidade e, por outro, um desmascaramento compulsivo das farsas [creio que, por esses critérios, eu me enquadre nessa categoria].
Nesse mesmo momento, emergiram argumentos psicanalíticos sobre os tais desvios. O psicanalista Robert Stoller, em certa discordância com Benjamin, compreendia que a transexualidade seria causada por questões psíquicas e não endocrinológicas. Argumentava haver forte influência da família na formação do indivíduo transexual. Vejamos como Stoller caracteriza o tipo ideal da mãe de uma pessoa transexual:
Uma mulher bissexual, cronicamente deprimida, com uma intensa inveja do pênis e um desejo apenas parcialmente suprimido de ser homem, casa-se com o único tipo de homem que lhe é possível – um homem distante, passivo, embora não efeminado, que não agirá como um competente marido ou pai. Então, se ela tem um filho bonito e gracioso, o mantém tão perto de si física e emocionalmente, que por volta do primeiro ano ele já mostra tendências femininas. Quando estas aparecem, são poderosamente encorajadas por sua mãe; o pai, não estando presente, não as desencoraja nem se apresenta como um modelo de masculinidade com o qual o menino poderia, de outra forma, identificar-se. A excessiva proximidade entre mãe e filho não é, em nenhum momento, heterossexual (Stoller, 1982, pp. 27-28).
As heranças dessa patologização podem ser encontradas em um cenário brasileiro recente. Em um trabalho publicado em 2017, dois psicanalistas conhecidos equipararam as transgressões de gênero a um “erro da natureza” e argumentaram que a emergência de identidades trans na contemporaneidade decorreria de uma “verdadeira epidemia de histeria trans no mundo contemporâneo” (Jorge & Travassos, 2017, p. 318). Esse modo de conceber as transgressões de gênero como algo epidêmico não é nada novo. Em relação às transgeneridades, data desde o fenômeno transexual, observado por Benjamin, e se estende até a criminalização de travestis e mulheres trans por acusações infundadas de contágio venéreo de HIV (Cavalcanti, 2024) – considerando ainda que eram pessoas trans cuja única possibilidade de subsistência advinha do trabalho sexual, em virtude de uma divisão sexual, racial e social do trabalho. Outro marco recente disso é o livro Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters [Dano Irreversível: A Febre Transgênera Seduzindo Nossas Filhas, em tradução livre], publicado em 2020 pela estadunidense Abigail Shrier, que identifica um teor epidêmico nas transmasculinidades – em sua perspectiva, a comunidade trans estaria incitando meninas a transicionar. Assim como Monteiro (2018) percebe, em relação à formação de black blocs, uma espécie de “efeito contágio” que, aos olhos das forças repressivas, deveria ser mitigado e controlado, é possível identificar um receio semelhante das forças médicas/psiquiátricas e psicanalíticas em controlar as possibilidades de desobedecer ao regime da diferença sexual. Daí, a atribuição de nomenclaturas específicas que identificassem um sujeito transexual.
Portanto, ainda que entrassem em desacordo, tanto a vertente endocrinológica como a psicanalítica possuíam o mesmo destino – a definição de uma patologia. O impacto dessa definição sobre nossas vidas é nítido: ao passo que possibilitou a institucionalização do atendimento médico para terapia hormonal e procedimentos cirúrgicos – considerados, ainda hoje, como ‘transexualizadores’ –, estabeleceram-se critérios de identificação do indivíduo trans ‘ideal’, que deveria refletir o antagonismo da congruência de gênero. Tal como ocorreu com Orlando de Woolf, o indivíduo inadequado não se encontra em um não-lugar; pelo contrário, é conduzido a residir em uma posição bastante delimitada: aquela da incongruência, da patologia e da falta.
É engraçado pensar em algo ‘transexualizador’, na medida em que seu antônimo, ainda que não explicitamente nomeado, produz efeitos tão corpóreos. A cisnormatividade se corporifica, material e discursivamente, sobre nossos corpos de modo cirúrgico, hormonal, comportamental, sexual e psíquico; produz angústias e adoecimento, e não é conceituada em manuais diagnósticos. Somente aquilo que desvia seria passível de categorização, mas sabemos que, na prática, se a transexualidade é institucionalizada enquanto patologia, a cisnormatividade é institucionalizada enquanto patamar de congruência e totalidade. Eis a necessidade de mudar os nomes de todas as coisas – veremos isso mais à frente.
A FRAGILIDADE DOS ANTAGONISMOS
Após as investigações de Benjamin, Stoller, Money e outros médicos/psiquiatras, sexólogos e psicanalistas norte-americanos e europeus, instâncias oficiais da medicina/psiquiatria se implicaram na categorização do corpo transexual: a Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association foi fundada na segunda metade do século XX; durante as décadas de ‘80 e ‘90, a transexualidade foi inserida no Código Internacional de Doenças (CID, atualmente em sua décima primeira versão) e no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM, atualmente em sua quinta versão). O CID-11, assinado pela Organização Mundial da Saúde, categoriza a transexualidade como uma incongruência de gênero[7]. O DSM-V, assinado pela Associação Americana de Psiquiatria, entende a transexualidade como um transtorno. E em 2008, no Brasil, o Sistema Público de Saúde instituiu o Processo Transexualizador. As transmasculinidades somente passaram a ser atendidas por esse serviço em 2013, cinco anos após o início das atividades.
Esses serviços de saúde especializada sobre transexualidade, que Alex Barksdale designa como atendimentos de afirmação de gênero (Barksdale, 2024), oferecem uma via legal pela qual poderíamos ter acesso à saúde. Não se trata, portanto, de questionar a necessidade desses espaços – pois são necessários –, mas de questionar o monopólio governamental e empresarial sobre todas as nossas possibilidades de ter saúde. Outorgando-se a posição de especialistas em transexualidade, esses médicos/psiquiatras se autorizam a determinar nossas vidas, os limites de nossas corporalidades, as direções de nossos desejos; e não possuímos meios para nos contrapor, ou para recorrer. No interior de clínicas e consultórios, não há possibilidade de contra-argumento, nem de questionar a autoridade desses especialistas. Ou seja, nos sujeitam a uma relação de dependência epistêmica (Hardwig, 2018). Os pareceres médicos são mais válidos do que nossas narrativas sobre nós mesmos. Atribui-se a um conjunto limitado de indivíduos e instituições certo grau de confiança sobre o que se supõe[8] ser transexual, para que, então, acessemos serviços ambulatoriais, modificações na documentação civil, formação escolar/acadêmica.
Nessa relação de dependência e diante da precariedade desses serviços, organizações trans se mobilizam para tomar as rédeas desses atendimentos e realizá-los de forma autônoma. A essas iniciativas, Barksdale atribui o termo práticas autônomas de saúde: redes de apoio mútuo, compartilhamento de informações sobre atendimentos médicos e medicamentos acessíveis, aplicação de hormônios, trânsito de substâncias. Em suas palavras, “durante décadas, as pessoas trans pesquisaram, reuniram e compartilharam informações sobre o AAG, incluindo quais clínicas e prestadores de serviços têm práticas de afirmação trans e quais devem ser evitadas” (Barksdale, 2024, p. 11). São práticas que não obedecem à lógica do capital, uma vez que se esquivam das dinâmicas de troca e se inclinam à dinâmica da dádiva e da solidariedade, e buscam burlar uma divisão social do trabalho que marginaliza as vidas trans. As práticas autônomas de saúde figuram formas de ação direta, a exemplo do Palácio das Princesas durante a década de ’80. Fundado pela ativista travesti pernambucana Brenda Lee, conhecida como o ‘anjo da guarda das travestis’[9], o Palácio das Princesas foi uma casa de acolhimento para receber pessoas transgressoras de gênero com HIV/AIDS. abigail Campos Leal (2021, p. 175) escreve que “Brenda conseguiu, depois de muito esforço, comprar uma casa, transformando-a de imediato em um espaço de acolhida [...] de moradia coletiva para corpos dissidentes de gênero e sexualidade”.
Monteiro (2018) reconhece a comum associação da noção de ação direta a ações consideradas terroristas, de enfrentamento direto contra os braços armados do estado. Essa associação, todavia, não abarca a ampla variedade de atividades que compõem ação direta. Em suas palavras,
Uma ação direta pode ser a ocupação de um prédio, o fechamento de uma rua para estender uma faixa durante uma manifestação ou dar aulas em um pré-vestibular social, por exemplo. Outros exemplos de ação direta podem ser: fazer parte de um coletivo midiativista, ministrar oficinas de gênero, participar de hortas comunitárias, comunicação comunitária, etc. (Monteiro, 2018, p. 215).
Ou seja, ação direta é ação que não recorre à mediação. Segundo um relato anônimo recolhido por Monteiro (2014/2018, p. 215) sobre Junho de 2013, ação direta pode ser definida como “tudo aquilo que não é ação indireta [...] se juntar com pessoas que querem resolver essa questão e diretamente agir naquilo, né?”. É justamente isso que as práticas autônomas de saúde defendem. As práticas autônomas de saúde rompem, ou no mínimo desafiam, as relações de dependência epistêmica, econômica e governamental.
Da mesma forma como o estado-nacional defende suas fronteiras fictícias com militarismo e lei, as instâncias médicas/psiquiátricas imprimem, em seus documentos oficiais e protocolos de atendimento, a norma, a naturalização da cisgeneridade e a patologização da diferença. Eis a nítida operação da colonialidade do saber (Maldonado-Torres, 2019). Um exemplo disso é a legislação brasileira, vigente até 2018, segundo a qual para que uma pessoa trans pudesse alterar seu nome e sexo em documentos civis, deveria apresentar laudos psiquiátricos e psicológicos que atestassem sua transexualidade. Depositava-se confiança na avaliação de juízes para determinar se um indivíduo seria um ‘verdadeiro transexual’, amparando-se na concepção benjaminiana. Firma-se, assim, uma aliança contínua entre as burocracias estatais, as leis de gênero e a opressão de classe – recorrer a essas instâncias é custoso e segregador. Sabemos que “o que é verdadeiro para as academias científicas é igualmente verdadeiro para todas as assembleias constituintes e legislativas” (Bakunin, 1975, p. 48). Não por acaso, diante de atravessamentos de territorialidade, raça, classe, corponormatividade (Melo & Nuernberg, 2013), é comum que realizemos colaborações coletivas para que nossos companheiros consigam pagar por procedimentos cirúrgicos, hormonização e acessos variados à saúde. É seguro dizer que a circulação de recursos financeiros, nesse âmbito, se dá pela dinâmica da dádiva, em contraposição aos princípios da troca.
Se, por um lado, a transexualidade foi conceituada como uma patologia dentro da academia, sob a legitimação de médicos, sexólogos e psicanalistas, a cisgeneridade, por outro lado, foi conceituada no final da década de 1990, em movimentos trans autônomos, sem legitimação institucional. Em nenhum momento da história do CID e do DSM é possível encontrar definições de cisgeneridade. A norma não nomeia a si mesma, mas nomeia o ‘outro’, em contraste com o qual o ‘eu’ se constitui. Em outras palavras, “a norma está onde diz que não está; se explicita quando inventa seu antagonismo” (Pfeil & Pfeil, 2024, s.p.).
Herman observa como essa normatividade opera em espaços altamente vigiados, como aeroportos e rodovias fronteiriças; espaços onde somos submetidos a escrutínio, tendo que nos camuflar por possuirmos um documento de identidade que não corresponde à verdade do sexo/gênero. Ou mesmo em espaços vigiados de outra forma, como banheiros ou vagões femininos no metrô. Essas são demonstrações materiais e discursivas [há diferença entre um e outro?] de normativas que se imprimem de forma bastante objetiva e violenta em nome da segurança, da imperatividade do capital, da proteção da família ou da reafirmação de um saber considerado universal. As inconformidades de gênero escancaram a fragilidade dessas fronteiras, das elaborações diagnósticas sobre o desvio.
Ao questionarmos essa norma e afirmarmos que o Eu nada mais é do que um ‘outro’ egocentrado e com autoestima altíssima; ao apontarmos a parcialidade do conhecimento científico; ao identificarmos o caráter normativo da cisgeneridade e da heterossexualidade, frequentemente encontramos reações de rejeição e negação. Pfeil & Pfeil (2022) descrevem esse fenômeno como ofensa da nomeação, pois nomeamos a cisgeneridade com o intuito de desnaturalizá-la. É comum que essa mesma cisgeneridade se ofenda ao ser removida de sua outorgada posição de normalidade. A naturalização do corpo cisgênero e heterossexual, bem como do corpo branco e endossexo, é institucionalmente angariada, de modo que qualquer tentativa de desnaturalização seja vista como uma ameaça à autoridade científica. Embora não se possa afirmar que representamos essa ameaça de modo homogêneo e linear, é certo que o ato de transicionar desvela fronteiras naturalizadas pelas mesmas instituições que nos consideram ameaçadores – “algumas pessoas trans querem apenas viver e ser deixadas em paz. E, no entanto, isso ainda é visto como uma ameaça em si” (Branson, 2024, p. 04).
Nomeando a norma enquanto tal, expondo seu teor normativo, nos deparamos com a recusa dessa mesma norma em reconhecer sua nomeação. Se o Outro é tratado como uma ameaça à sociedade e ao estado, o Eu é tanto aquele que o estado protege como aquele cuja legítima defesa é legitimada pelo estado[10]. A norma se defende de seu antagonismo ao se recusar a reconhecer a nomeação que o Outro lhe atribui.
A trans-anarquista Shuli Branson propõe que esse teor de ameaça, de antagonismo radical atribuído às transgressões, seja ampliado de modo a ampliar, também, os danos que podemos provocar. Ou seja, podemos nos apropriar da designação como antagonismos e “incorporar a ameaça”. Nos apropriamos da ameaça tanto pelo corpo como pela linguagem; tanto pela afirmação do desvio – ou, como consta no CID-11, ‘incongruência de gênero’ – como pelo constrangimento da congruência. É um constrangimento que toca no cerne da questão, inclusive dentro de meios anarquistas: o já citado anarconservadorismo que implica com o tal identitarismo reage comumente de maneira reativa ao apontarmos que alguns de seus figurões se apoiam justamente nas normatividades que afirmam odiar. Parece-me, portanto, apropriado realizar uma crítica anarquista da opressão intelectual e à violência institucional, e não vejo outro caminho para tanto senão tomando como elemento de análise as reações intempestivas da normatividade aos questionamentos trazidos pela dissidência.
TRANS-ANARQUISTAS CONTRA O ESTADO[11]
Não há como não nomear o mundo, a diferença e a norma. Contudo, é a institucionalização das nomeações que as produz e inscreve em políticas de aniquilamento. O culto à autoridade nos conduz a pensar em termos de governantes e governados, a adquirirmos certos ideais sobre nossos desejos e sexualidades [...] o trans-anarquismo pode ser pensado como uma oposição tanto ao autoritarismo governamental como ao científico, que, no vasto campo de nomeações, designa certos corpos como monstros e outros como humanos (Pfeil & Pfeil, 2024, s.p).
Em novembro de 2019, na conferência anual da École de la Cause Freudienne (Paris, França), Paul B. Preciado discursou, a convite da organização do evento, a cerca de 3.500 psicanalistas. Ao afirmar “eu sou o monstro que vos fala”, Preciado convidou uma academia de psicanalistas a reconhecer as normativas que a psicanálise produz e reifica. Não há, de fato, como não nomear esse mundo, a diferença e a norma, mas há como constrangê-la; como desnaturalizá-la; como mirar em seu enraizamento. A diferença designa os discursos que a produzem e as instituições que os legitimam. É comum ao sujeito moderno, em sua constituição subjetiva, marcar a diferença entre o ‘eu’ e o ‘outro’. Esse narcisismo é elemento característico do desenvolvimento egóico, ao menos no campo cultural ocidental. Há violência quando, da constituição subjetiva, passamos para a constituição de formas de aniquilamento – institucionalizado, estrutural e opressivo. A ofensa da nomeação se exprime aí, onde as normatividades fincam suas raízes e se acomodam. E o incômodo provocado pela nomeação da norma denota prontamente a fragilidade das identidades modernas.
Nas palavras de Preciado, “são os psicanalistas heterossexuais normativos que precisam urgentemente sair do armário da norma”. A esses psicanalistas, Preciado se apresentou como um corpo trans,
ao qual nem a medicina, nem a lei, nem a psicanálise, nem a psiquiatria reconhecem o direito de falar com conhecimento especializado sobre minha própria condição, nem a possibilidade de produzir um discurso ou uma forma de conhecimento sobre mim mesmo [...] (Preciado, 2020, s.p)
Preciado denuncia a canonização de categorias de gênero em psicanálise, tomadas por Freud a nível mítico-psicológico e cientificizadas por Lacan. Tais categorias, expressas em forma de narrativa, não seriam universais, mas locais, parciais, e fundamentadas pela figura impositiva do ‘pai branco’ sobre demais possíveis corporalidades. Então, psiquiatria, psicanálise e medicina estariam imbricadas em sustentar a epistemologia da diferença sexual, apesar de a psicanálise ser “um etnocentrismo que não reconhece sua posição politicamente situada” (Preciado, 2020, p. 293). É interessante trazer um viés psicanalítico para esse estudo, pois a psicanálise criticou a sintomatologia médica/psiquiátrica de sua época, mas manteve-se fiel ao regime da diferença sexual. E a falência desse regime, tal como o da representação, se evidencia nos saberes trans-anarquistas.
A crítica de Preciado é dirigida ao rigor acadêmico que opera como um instrumento de exclusão e invalidação dos saberes produzidos pelos ‘outros’. E se dirige, também, ao rigor psicanalítico que, apesar de se pretender originalmente subversivo, acumula certa fixidez em posições normativas[12]. Daí se justifica a demanda por uma clínica politizada, que se implique politicamente, como buscava fazer Otto Gross (Checchia et. al., 2017).
Não é de se admirar, portanto, que durante o discurso de Preciado vários dos psicanalistas presentes no auditório tenham começado a reagir verbalmente e a dar as costas e ir embora, recusando-se a exercer o que fundamenta a clínica psicanalítica – a escuta. Eis a ofensa da nomeação. Podemos pensar que, apesar de os saberes psicanalíticos terem se posicionado contrariamente ao dualismo ontológico e ao solipsismo cartesianos, há um solipsismo tipicamente psicanalítico na medida em que tais psicanalistas somente se propõem a dialogar com sua semelhança, recusando-se a escutar um corpo da monstruosidade. Estabelece-se um patamar de sujeito [de humanidade] que somente podemos ocupar parcialmente; e então recusamos esse lugar – é isso que vocês esperam que a gente dispute? pois então ficaremos de fora mesmo.
A reação dos psicanalistas diante de Preciado é previsível. Assim como em psicanálise, no anarquismo encontramos vestígios de fixidez, conservadorismo e recusa. É pela reação à ofensa que se consegue apontar para os seus pontos de fragilidade.
Ofendemos o mundo ao abraçarmos nossa monstruosidade; ao não recusarmos o lugar de monstro, de ameaça à família, à normalidade, à academia, que nos é relegado; ao nos apropriarmos da designação como antagonismos, incorporando a ameaça; ao rompermos com as dinâmicas da representação e com a lógica da troca. É nesse sentido que se recusa separar a teoria da prática e os meios dos fins, ou que recusamos as categorias diagnósticas que se propõem a justificar nosso acesso à saúde.
A ofensa sentida pelos psicanalistas frente à provocação de Preciado serve como resposta à Outridade, por meio da qual o Eu concede a si mesmo a capacidade – ou a autoridade – de inferiorizar aquele que designa como Outro. Ofender o mundo é constrange-lo; constranger a norma é desnaturalizá-la, e aqueles que redigem esse constrangimento se tornam imediatamente ameaçadores:
Ao constrangermos aqueles que nos tratam como representações de diagnósticos, como monstruosidades, nos apropriamos do teor de ameaça que nos é atribuído – o monstro, afinal, personifica tudo aquilo que ameaça essa Humanidade à qual [não] pertencemos (Pfeil & Pfeil, 2024, s.p).
Ao constrangermos a norma e incorporarmos a ameaça, concretizamos a ameaça de violência iminente que nos é atribuída. Não é de modo algum incomum que insurgências de movimentos trans sejam descritas como ultrajantes, violentas, ataques à sociedade e à família burguesa heterossexual, como ofensas ao cânone das academias, ou como atentados contra o regime da diferença sexual. A quem é autorizado o poder de ser violento? Quem possui o direito de se defender, e quem possui o direito de nomear? E, ao ampliarmos esses questionamentos para o interior do movimento social, a quem é conferido certo protagonismo para determinar o que é e o que não é uma violência?
SOBRE O DIREITO AO NOME E À AUTODEFESA
Ao fim da década de 1990, segundo relato da ativista Jovanna Baby Cardoso da Silva, a prefeitura do Rio de Janeiro, sob comando de Marcello Alencar, enviou a guarda municipal às ruas para deter travestis deliberadamente no território que abarcava desde o Aeroporto Santos Dumont até Ipanema. Antes do início da operação, Jovanna acionou o instituto em que trabalhava, o ISER – Instituto de Estudos da Religião, para impedir as detenções. Assim que os guardas municipais chegaram à Avenida Augusto Severo, Jovanna e suas companheiras ligaram, de um orelhão, à polícia militar. Segundo seu relato,
Cerca de dez a quinze minutos depois a PM chega também com um ônibus, a essa altura também já tinham algumas travestis detidas dentro do ônibus. Um dos oficiais da PM deu voz de prisão aos agentes da guarda municipal, visto que estes não tinham autonomia para realizar ações dessa natureza. Ainda que neste episódio específico a PM tivesse nos socorrido durante essa ação arbitrária da prefeitura do Rio, nós continuávamos sendo perseguidas, inclusive pela própria PM (Silva, 2021, pp. 21-22).
Diante disso, após o contato com a pm, elas se organizaram institucionalmente para realizar uma denúncia formal desse tipo de ocorrência. Assim, fundaram a ASTRAL – Associação de Travestis e Liberados, no dia 15 de maio de 1992, sob direção de Elza Lobão, Beatriz Senegal, Josy Silva, Monique du Bavieur e Cláudia Pierre France, tendo Jovanna Baby como presidenta[13].
Na interpretação de Cavalcanti (2024), o movimento organizado das travestis no Brasil se consolida a partir de conflitos internos entre a polícia militar e a guarda municipal. Mas a momentânea brecha conferida pela polícia não significou uma aliança permanente, nem uma bondade proveniente do estado, já que, segundo Jovanna, a polícia continuava exercendo violências e detenções de travestis nas ruas, e “[..] as violentas abordagens e apreensões policiais arbitrárias não se restringiram a uma única operação em uma única cidade e com tempo de duração oficial de menos de um mês” (Cavalcanti, 2024, p. 88). Em 1987, por exemplo, ocorreu uma operação semelhante no centro da cidade de São Paulo, conhecida como operação tarântula. A alegação infundada de que as travestis estariam cometendo crime de contágio venéreo de HIV é um exemplo escancarado do uso de um saber considerado ‘científico’ para legitimar transfobia institucional e política higienista e para invalidar qualquer tentativa de defesa das travestis nesse cenário.
Portanto, as formas de defesa empregadas nesse momento seguiram outra direção: o estado estaria se defendendo da ameaça iminente que pessoas trans e travestis representariam, e estas, por sua vez, exerceram autodefesa a partir das ferramentas que estavam ao seu alcance. Elsa Dorlin (2020) entende que estamos sujeitos a uma economia de meios que impede certos corpos da capacidade de se defender. Por uma perspectiva tipicamente liberal, o corpo inaugura uma propriedade. Tornando-se proprietário, o sujeito moderno se autoriza a dominar – e a classificar, nomear, inferiorizar. Ser proprietário é condição de exploração e, portanto, da conquista e da existência plena. Se o sujeito moderno se moldou em torno de sua capacidade de defender sua propriedade, aqueles incapazes de se defender, ou cujas tentativas de autodefesa são tidas como ilegítimas, não se enquadram na categoria de sujeito. Curiosamente, o direito sobre o próprio corpo [e sobre o próprio nome] não se estende aos corpos inconformados e transgressores. Nas palavras de Dorlin, “aqui, a potência de agir, muito mais do que o corpo em si, torna-se claramente o que define e, simultaneamente, o que chama para si o poder” (2020, p. 8).
Talvez possamos pensar no caráter proprietal das nomeações. Se o critério diagnóstico e as categorias modernas se apresentam como propriedade, qualquer confronto contra o que está estabelecido se torna ofensivo – ainda que o confronto seja, em minha perspectiva, uma expressão de autodefesa. Demarcam-se, assim, o campo daqueles que exercem legítima defesa e o campo daqueles cuja autodefesa é tida como ameaça, ou seja, ilegítima. A legitimação da defesa dos primeiros se dá fortemente por argumentos considerados científicos, e os últimos somente conseguem sobreviver por meio de estratégias defensivas – seria o que Dorlin chama de autodefesa propriamente dita. Ao passo que a legítima defesa compreende um sujeito – aquele que é defendido, que necessita de algo para defendê-lo –, a autodefesa não pressupõe um indivíduo, pois constitui-se naquele que a pratica. Então, esses episódios de violência contra pessoas trans – que não possui um único viés [estado, capitalismo, ou o que quer que seja], mas se espraia inclusive para dentro dos meios ditos libertários/anarquistas –, embora não ocorram em uma única esfera, são legitimados por instâncias bastante repetitivas e centralizadoras. Nesses âmbitos, a autodefesa aparece como via de fuga e reação.
No contexto da prostituição, a autodefesa se mostra, segundo Cavalcanti, como uma forma de afirmação de si, como tática de sobrevivência, considerando, ainda, que a polícia não exercia seu suposto e falido propósito de garantir proteção. É interessante citar, como fez Cavalcanti, a história de Maria Clara de Sena, contratada como perita no sistema de combate à tortura. Em 2015, durante uma inspeção, um agente penitenciário a desrespeitou, chegando a ameaçar atirar em sua cabeça. Após denunciar o caso, o agente foi afastado, mas o Sindicato dos Agentes e Servidores no Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco (Sindasp-PE) declarou publicamente apoio ao agente e acusou Maria Clara de tê-lo desrespeitado. A inversão da narrativa colocou a vida de Maria Clara em risco. Além disso, Maria Clara foi repetidamente tratada com pronomes masculinos e teve seu nome desrespeitado. Durante o início das investigações, Maria Clara sofreu ataques virtuais de perfis falsos em redes sociais e, algum tempo depois, ao retornar para sua casa após o trabalho, encontrou seu apartamento revirado, com a porta arrombada. Maria Clara pediu, então, desligamento do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Pernambuco e conseguiu asilo político no Canadá, onde vive até hoje.
Há nitidamente uma cisão entre as forças governamentais, que estariam protegendo uma parte da população – branca, cisheterossexual, endossexo, burguesa, proprietária –, e o ‘restante’ – negro, indígena, periférico, LGBTIA+... No caso da operação tarântula, identificou-se “de um lado o Estado e a população em geral, e [d]o outro as travestis e demais pessoas assumidamente LGBTI” (Cavalcanti, 2018, p. 182). Traçando essa dicotomização, o estado se outorga o uso legítimo da força. Se estabelece uma “[...] política imperial da violência que, paradoxalmente, defende indivíduos já reconhecidos como legítimos para se defender por si mesmos” (Dorlin, 2020, p. 13), ou para se nomearem enquanto humanos, normais e congruentes. A esses indivíduos se concede autorização para se defender legitimamente da autodefesa ilegítima do corpo outremizado (Morrison, 2019) e transformado em antagonismo.
A atribuição de um nome é a demarcação de um alvo – nas palavras de Monteiro (2018, p. 22), “para a repressão, no entanto, atribuir um nome é criar um sujeito perigoso”. Em medicina/psiquiatria, demarcaram-se sujeitos perigosos que representassem atentados à biologia humana sob respaldo de uma defesa da família, de determinada forma de vida, da reprodução do capital e do trabalho reprodutivo. Ao passo que, segundo Monteiro, os nomes atribuídos pela repressão se concentram em perseguição e extermínio, os nomes manejados pela resistência, além de servirem como contraposição, se voltam para a criação. Nesse sentido, indago: tendo em vista as transformações linguísticas que realizamos dentro e fora da academia, que desbancam o autoritarismo científico, que constrangem a naturalização das identidades modernas, que ofendem um academicismo birrento e insaciável, seria possível considerar a nomeação da norma com parte de uma tática de autodefesa propriamente dita? E nesse viés, seria essa autodefesa uma expressão trans-anarquista de manejo da linguagem?
As zonas de alta vigilância pontuadas por Herman oferecem os cenários ideais para que a legítima defesa contraste com a autodefesa propriamente dita. Há sempre algum agente disposto a defender a sacralidade de sua própria posição, e isso se verifica particularmente em espaços institucionalizados de produção de conhecimento; espaços que se atêm à fixidez, que recusam a possibilidade da transição e da mudança. Ao convidar o anarquismo a transicionar, parece-me que Shuli Branson segue esse caminho: não se trata somente de um convite para que o anarquismo repense algumas de suas estratégias, mas para que se desgarre de seus essencialismos, que abandone o sujeito moderno, que nomeie suas normatizações em vias de desnaturalizá-las, que construa espaços coletivos que não cerceiem a si mesmos com suas suposições de verdade. A crítica realizada pelo Coletivo Anarcofeminista Insubmissas, em seu recente Manifesto Anarcofeminista, segue esse caminho:
Esse manifesto é um grito contra toda forma de opressão dentro e fora do anarquismo. É um chamado para que o anarquismo seja um terreno fértil para o florescimento da diversidade, um lugar onde nossas vozes sejam acolhidas, onde nossas lutas sejam validadas e fortalecidas, e onde ninguém seja deixado para trás ou de lado, ouvindo que suas demandas são secundárias nas lutas.[14]
Trata-se, para além disso, de compreender que, ao passo que os movimentos trans apresentavam, desde sua emergência, posturas necessariamente combativas, baseadas em autodefesa e estratégias de sobrevivência, as pessoas trans militantes recorriam aos elementos que estavam a seu alcance, de acordo com suas possibilidades de atuação. Isto é, esses mesmos movimentos se encontravam em uma posição de dependência para adquirir certo acesso, ainda que precário, à saúde, educação, empregabilidade, moradia. Mas retomo a questão de não pedir pela compreensão do movimento anarquista: não desejamos seu olhar compreensivo para com as demandas e estratégias de luta trans; desejamos que se engajem, que não enxerguem nossas demandas como algo de fora, que sonhem com outras possibilidades de vida a partir, também, das nossas.
É nesse mesmo sentido que Herman pensa não em um anarquismo queer, mas em um anarquismo queerizado, em algo que é constantemente transformado, e não que almeja um patamar de completude. A possibilidade de mudar os nomes de todas as coisas seria, então, uma abertura para a possibilidade da transição. Diante dessa possibilidade, ao nos defendermos daquilo que nos violenta, nos tornamos iminentemente violentos. Quando penso em autodefesa, devo trazer à discussão a noção de violência revolucionária trabalhada por Malatesta (2007).
A AUTODEFESA PROPRIAMENTE DITA DO TRANS-ANARQUISMO
Argumento que sim, o constrangimento e a desnaturalização da norma podem ser considerados modos de autodefesa propriamente dita, assim como as práticas autônomas de saúde, a organização de espaços autônomos onde outras formas de vida são possíveis. É interessante fazer uma distinção entre a violência do estado e a violência revolucionária. Nas palavras de Malatesta, a revolução necessita ser violenta,
porque sería una locura esperar que los privilegiados reconocieran el daño y la injusticia que implican sus privilegios y se decidieran a renunciar voluntariamente a ellos. Debe ser violenta porque la transitoria violencia revolucionaria es el único medio para poner fin a la mayor y perpetua violencia que mantiene en la esclavitud a la gran masa de los hombres (Malatesta, 2007, p. 55).[15]
Não se deve esperar por concessões. Esse é o caminho da prefiguração. Não aguardamos que a normatividade reconheça seu teor normativo para, então, corporificarmos aquilo que se entende por incongruência; não aguardamos que os sistemas de saúde despatologizem a transexualidade para que, então, tomemos em mãos o manejo das substâncias ‘transexualizadoras’; não aguardamos que a família heterossexual reveja suas ficções contratuais para, então, seguirmos por caminhos contra-normativos; e certamente não aguardamos que os acordos ortográficos da língua portuguesa adotem as mais recentes transformações na linguagem para, então, empregarmos outros modos de comunicação. O emprego do pajubá pelas travestis e mulheres trans durante a ditadura militar, assim como a nomeação da cisgeneridade e a criação de outras nomenclaturas que [de]codificam certas expressões, poderiam ser compreendidas não somente como formas de autodefesa propriamente dita, mas de criação de outros mundos. Em outras palavras, seriam formas de prefiguração. E a prefiguração ofende o mundo que conhecemos, justamente porque almejamos, concomitantemente à ‘criação’ de outro mundo, destruir o atual.
Quando Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera atiraram tijolos nos policiais de Nova Iorque durante a revolta de StoneWall (1969), elas estavam se defendendo da violência racista e sexista cotidiana que as impedia de andar livremente pelas ruas da cidade. Não é de surpreender que vários movimentos trans com estratégias políticas alinhadas aos ideais anarquistas sejam considerados terroristas. O mesmo pode ser pensado em relação às manifestações artísticas e combativas da banda Pussy Riot na década de ’10, que sofreu uma dura repressão do governo russo, além de ter sido enquadrada como um grupo de ativistas ‘bagunceiras’ sem direcionamento político definido (Murney, 2024). Essas acusações – de caos, vandalismo, violência desgovernada e bagunça – tipicamente se direcionam a qualquer insurgência contra o estado e o capital.
É esse mesmo poder institucional acusatório que determina o que é a ‘verdadeira’ transexualidade, em seus inúmeros e tendenciosos critérios de diagnóstico. É esse mesmo poder institucional que captura movimentos trans em políticas partidárias. A direção que adotamos em relação às academias científicas não é de reivindicar legitimidade ou liberdade, porque “aquele que amarra é tão preso quanto aquele cujos movimentos são dificultados pelas cordas atadas” (Preciado, 2020, s.p). Não seria coerente pedir por liberdade, pois a liberdade não pode ser concedida; não é um objeto a ser entregue a alguém, nem uma parcela com conteúdo escasso a ser medida e regulada. A liberdade se materializa em nossos corpos, em nossas prefigurações materiais-discursivas dos mundos onde desejamos viver. Prefiguramos as nossas vidas em nossas corporalidades; prefiguramos, em nossos corpos, os mundos que imaginamos; mundos onde nossas vidas são tidas como possíveis.
Desejamos, justamente por isso, destruir a atual conjuntura que nos fere; botar o regime da diferença sexual contra a parede diante de um largo auditório repleto de psicanalistas que se recusam a escutar. Confrontamos uma academia que determina as fronteiras entre o humano e a monstruosidade, que inferioriza a diferença e se impõe autoritariamente para legitimar a lei. Ofender a norma é uma tentativa de se apropriar anarquicamente, e não despropositadamente, da linguagem.
Anastasia Murney, em sua defesa da bagunça como metodologia revolucionária, argumenta que bagunçar determinados meios, concepções de mundo e categorias pode ser uma maneira de criar outras [ficções de] realidades. A bagunça ocorre não no sentido de “definir um sujeito ideal, mas [de] recusar a estagnação e a acomodação dentro das estruturas capitalistas, neoliberais e patriarcais” (Murney, 2024, p. 06). Não se desejaria, com isso, estabelecer um novo sujeito do anarquismo, ou do socialismo, ou de qualquer movimento, mas sim descentralizar o sujeito, recusar sua noção de humanidade. A bagunça seria algo coletivo, despersonalizado e plural, capaz de atormentar a tranquilidade dos autonomeados sujeitos da modernidade – de ofendê-los e, com isso, suscitar reações de recusa. Em coletividades libertárias, tal como narrado pelo Coletivo Insubmissas, comumente nos deparamos com reações autoritárias diante desse tormento.
Respondo, então, minha indagação anterior: acredito que o direito à autodefesa e à nomeação do mundo se concentram em um mesmo sujeito – àquele que é dono de sua humanidade, que é proprietário de seu corpo, que produz a Outridade, que se blinda por trás de legitimação institucional, e que se ofende ao ter seu reinado normativo confrontado por um manejo trans-anarquista da linguagem. Eis o teor ameaçador da possibilidade de mudar os nomes de todas as coisas. Mudar os nomes é uma ameaça ao enraizamento e à permanência[16]. É nesse caminho que me interesso por um anarquismo queerizado. Um anarquismo que não se restrinja à oposição e que não se esquive de remanejamentos subjetivos. Em outras palavras, um anarquismo que não tema a transição.
A TRANSIÇÃO COMO [PÓS-]ANARQUISMO
Ser queer é negar, escreve Avery-Natale (2024). Não se reduz a uma forma de identificação, mas a uma intermitente negação. Nos protestos contra o G20 de 2009, em Pittsburgh (EUA), manifestantes entoavam “estamos aqui, somos queer, somos anarquistas!”. Ao perceber que, das centenas de manifestantes do black bloc que entoavam esses dizeres, seria muito improvável que todes se identificassem como queer, Avery-Natale inferiu que seria possível negar e, ao mesmo tempo, construir algo em torno de uma subjetividade black bloc – haveria, com o uso de vestimentas e máscara pretas, cartazes, bandeiras e frases de protesto um remanejamento identitário, em que alguém que não é queer poderia momentaneamente entoar essa afirmação como se ocupasse essa posição.
A resposta que Avery-Natale tece em torno desse remanejamento subjetivo se volta para a prefiguração: enquanto representamos algo ainda-por-vir, no contorno das possibilidades de futuro que enxergamos em nosso horizonte, rompemos com as identidades que nos são atribuídas e com aquelas que afirmamos para nós; e entoamos ‘somos queer’ no meio de um black bloc, porque naquele momento somos a estranheza, o corpo-outro, a ameaça contra o regime da diferença sexual, do capitalismo e de governança, a necessidade de um outro mundo. Esse remanejamento subjetivo corresponde ao convite que Shuli Branson faz ao anarquismo: a um anarquismo em transição. A transição é algo contínuo, que recusa a binariedade e a permanência. “O monstro”, diz Preciado, “é aquele que vive em transição” (2020, p. 297).
A impressão de listas quase infinitas de diagnósticos no CID e no DSM representam essa cilada, porque a ciência universalista é “[...] tão pouco capaz de discernir a individualidade dum homem como a de um coelho” (Bakunin, 1975, p. 43). Ou seja, ainda que se esforce para afirmar a verdade sobre qualquer coisa, há algo que escapa – perceba-se que não escrevi falta. Assumir a transição é se envolver em seu movimento contínuo; é abdicar de perspectivas totalizantes; é abrir mão de suposições de completude.
Um anarquismo em transição é um anarquismo da monstruosidade, que talvez possa se assemelhar ao que Saul Newman (2006) entende como pós-anarquismo, especialmente em sua crítica à pretensão originalmente subversiva da psicanálise, como também pensou Preciado. Limitando-se a uma espécie de subversão fixa e imóvel, que parece ter se encerrado no século XIX, a psicanálise se recusa a se haver com aquilo que lhe escapa: se há incongruência, há uma congruência velada; se há patologia, há normalização; e se há mal-estar, há uma condição inescapável de existência que determina a distinção entre ser e existir. Assim como a psicanálise, que acabou por elaborar uma crítica moderna à modernidade, o anarquismo não se livrou do pensamento binário de oposição – o qual compreende o paradigma da representação. Então, para além de resistirmos a uma estrutura de poder centralizada, poderíamos resistir incansavelmente a essa mesma estrutura de pensamento.
É assim que Newman define pós-anarquismo: como “um projeto ético-político inacabado de desconstrução da autoridade”, que se diferencia do anarquismo ‘clássico’ por ser “uma política não-essencialista” (2006, p. 45). É um projeto inacabado que não se encerra em um só horizonte, nem em uma imagem estática de sociedade. É inacabado por se manter em contínuo movimento, por não possuir um projeto fixo de organização, por questionar tanto as estratégias de oposição contra o estado e o capital quanto os modos como compreendemos e lidamos uns com os outros.
Mudar os nomes de todas as coisas tem a ver com a possibilidade de abolir não necessariamente outros nomes, mas aquilo que os fundamenta. A abolição do estado carrega consigo a desnaturalização do sujeito e de toda suposição de essencialismo [tanto em relação a uma natureza humana solidária como a uma natureza humana sanguinária e brutal]. Daí a similitude entre uma perspectiva pós-anarquista e trans-anarquista: não há vínculo intrínseco entre as inconformidades de gênero e a luta libertária, senão quanto àquilo que confronta os regimes de governança e exploração.
Não há identidade determinada, nem natureza depurada: se o eu somente se constitui através do outro, então não há identidade pura, nem depurável – “nenhuma identidade é completa ou pura: é constituída por aquilo que a ameaça” (Newman, 2001, p. 117, tradução minha). Assim, opor-se ao poder do estado e do capital demandaria uma oposição às nossas formas de identificação. Ainda que não possamos nos desafixar completamente daquilo que, em certos momentos, nos constitui, podemos, em outra direção, prefigurar possibilidades de futuro que recusam os paradigmas modernos/coloniais. As inconformidades, incongruências e dissidências sexuais e de gênero recusam radicalmente as dualidades modernas – embora porventura repliquem elementos daquilo que rechaçamos, como ocorre nas marchas do ‘orgulho’ embebidas de pink money. De outro modo, podemos, como escreve Jota Mombaça, “viver apesar de tudo. Na radicalidade do impossível” (2021, p. 14). E retornando a Herman, não se trata de associar as incongruências a uma espécie de natureza anárquica, mas de tensionar e atormentar as supostas congruências corporais e discursivas sobre sexo/gênero.
Não nego que ser um incongruente [tal como consta no CID-11], ou um inadaptado [como pontuou Otto Gross (Checcia et. al, 2017)], seja, em algum âmbito, compor um movimento tanto de ruptura como de prefiguração. E a prefiguração caminha ao passo da imaginação radical, pois temos que radicalmente imaginar que nossos corpos e, com isso, nossa linguagem, poderiam ser outra coisa. Então, em busca da saída do regime da diferença sexual, e também do paradigma da representação, Preciado se refere à criação de uma nova gramática, de uma nova linguagem – tarefa que não se pode realizar individualmente.
Com pós-anarquismo e trans-anarquismo, Newman e Herman não sugerem um abandono ou rejeição total do anarquismo oitocentista e europeu, mas uma releitura a partir daquilo que nos afeta; um reconhecimento de que não há saber universal que dê conta de tudo, muito menos de nossa monstruosidade; uma busca por outras referências que dialoguem com nossas realidades cotidianas. Ao passo que não se pode afirmar que ser uma pessoa trans é ser um revolucionário – visto que não podemos estabelecer definições unívocas sobre um ou outro –, percebo que a corporificação da autodeterminação prefigura, ainda que de maneira incipiente, possibilidades de futuro que compreendem nossas vidas como possíveis. A corporificação da ameaça compreende a destruição daquilo que nos aniquila e a construção daquilo que nos permite viver; é a possibilidade de mudar os nomes, de metamorfosear a vida, o corpo e a linguagem. E a linguagem, nesse manejo trans-anárquico, me parece mais uma prática concreta do que um pressuposto teórico. É um manejo que se recusa a determinar a verdade da vida, pois compreende que “[...] dizer a verdade do outro já é dominação [...]” (Jourdan, 2019, p. 50).
Meu contato com Orlando, tanto de Woolf como de Preciado, talvez tenha sido uma forma de contato comigo mesmo. Desde a disrupção ocasionada pela nomeação da norma até a prefiguração de outros modos de vida, esse manejo se apresenta. As palavras de Audre Lorde, “as ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a casa-grande” (2015), ilustram isso bem. Esse desmantelamento tem sido realizado cotidianamente por prefiguração. Deturpamos [ou bagunçamos] nossa realidade na medida em que a ofendemos; em que questionamos suas suposições de verdade; em que injetamos testosterona com aplicações intramusculares e sentimos o corpo se defrontar consigo mesmo, ou em que afirmamos nosso gênero sem sequer tocar em uma seringa; em que mudamos nossos nomes e, com isso, nossas formas de conceber o mundo.
Trans-anarquismo se destina a uma transição anárquica, e a um anarquismo em transição: que não tomemos como patamar de humanidade aquilo que nos aniquila e que não humanizemos aquilo que nos inspira à revolta. A humanidade não é senão uma tentativa de ordenamento, e o ordenamento conferido pela representação possui, para nós, o gosto da tutela: “[…] a ordem é a miséria, a fome, tornadas estado normal da sociedade […]” (Kropotkin, 2005, p. 88).
Para finalizar, cito Mombaça:
[...] onde apenas morremos quando precisamos recriar nossos corpos e vidas. Aqui, onde os cálculos da política falham em atualizar suas totalizações. Aqui, onde não somos a promessa, mas o milagre. Aqui, onde não nos cabe salvar o mundo, o Brasil ou o que quer que seja. Onde nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras e manifestam, com sua dissonância, dimensões e modalidades de mundo que nos recusamos a entregar ao poder. Aqui. Aqui ainda (Mombaça, 2021, p. 14).
APRESENTAÇÃO. revista trans-libertária, v. 1, n. 1, 2024, p. 6. Disponível em: transanarquismo.noblogs.org. Acesso em: 29/10/2024.
AVERY-NATALE, Edward. “‘We’re Here, We’re Queer, We’re Anarchists’: The Nature of Identification and Subjectivity Among Black Blocs”. Anarchist Developments in Cultural Studies, 2010.1.
BAKUNIN, Mikhail. O Conceito de Liberdade. Porto: Edições RÉS limitada, 1975.
BARBOSA, Angie. Notas para transicionar o anarquismo: transfeminicídio, políticas públicas e democracia nas margens da cidadania de gênero. Revista Terra sem Amos, v. 3, n. 5, 2022, pp. 20-28.
BARKSDALE, Alex. Perspectivas Anarquistas-Feministas sobre Saúde Reprodutiva e Trans Autônoma. Biblioteca Anarquista Lusófona, 2024. Disponível em: bibliotecaanarquista.org. Acesso em: 18/07/2024.
BRANSON, Shuli. Por um feminismo trans-anarquista: Transição como Cuidado e Luta. Tradução: Cello Latini Pfeil. Em: Biblioteca Anarquista Lusófona, 2024. Disponível em: <bibliotecaanarquista.org>. Acesso em: 04 Abril 2024.
CAVALCANTI, Céu Silva. O Azuelo, a Colocação e a Tranca: Ejó de Polícias e Relações Complexas nas Noites da Pista. 2024. Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) – Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ.
CAVALCANTI, Céu; BARBOSA, Roberta Brasilino; BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. Os Tentáculos da Tarântula: Abjeção e Necropolítica em Operações Policiais a Travestis no Brasil Pós-redemocratização. Psicologia: Ciência e Profissão, 2018, v.38 (núm. esp. 2).
CHECCHIA, Marcelo; DE SOUZA, Paulo Sérgio; LIMA, Rafael Alves. Trad. Paulo Sérgio de Souza Jr.). Otto Gross: Por uma psicanálise revolucionária. São Paulo: Annablume, 2017.
DORLIN, E. Autodefesa: uma filosofia da violência. São Paulo: Crocodilo/Ubu Editora, 2020.
HARDWIG, John. Dependência epistémica. (Trad. Desidério Murcho). Crítica na Rede, 2018. Disponível em: criticanarede.com. Acesso em: 18/07/2024.
HERMAN, Elis L. Trans-anarquismo: corporeidade transgênera e desestabilização do estado. (Trads. Bruno Latini Pfeil; Cello Latini Pfeil). Rio de Janeiro: Revista Ítaca (UFRJ), n. 40, 2024, pp. 285-318.
JEPPESEN, Sandra; NAZAR, Holly. Genders and Sexualities in Anarchist Movements. In: The Continuum Companion to Anarchism. Nova Iorque: Continuum International Publishing Group, 2012.
JORGE, M. A. C; TRAVASSOS, N. P. A epidemia transexual: histeria na era da ciência e da globalização? Em: Revista Latinoamericana de Psicopatologias Fundamentais, v. 20, n. 20, 2017, pp. 307-330.
JOURDAN, Camila. A Falência da Representação. ANANKE - REVISTA CIENTÍFICA INDEPENDENTE, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-18, jan. 2019. Disponível em: <revistaananke.com.br>. Acesso em: 30 out. 2024.
JOURDAN, Camila. Foucault e a ruptura com a representação. História: Questões & Debates, Curitiba, v. 67, n.2, p. 43-67, jul./dez. 2019.
JOURDAN, Camila. Anarquismo e analítica do poder. Revista Ecopolítica, 17, 2017, pp. 2-18.
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
KROPOTKIN, Piotr. Palavras de um Revoltado. São Paulo: Editora Imaginário, 2005.
LEAL, abigail Campos. Ex / orbitâncias – os caminhos da deserção de gênero. São Paulo: GLAC Edições, 2021.
LORDE, Audre. As ferramentas do mestre nunca irão desmantelar a casa-grande. 2015. Disponível em: ewe.branchable.com. Acesso em: 18/07/2024.
MALATESTA, Errico. Pensamiento y Accion Revolucionarios. (Org. Vernon Richards. Trad. Eduardo Prieto.) Buenos Aires: Tupac Ediciones, 2007.
MALDONADO-TORRES, N. Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In.: BERNARDINO-COSTA, J.; MALDONADO-TORRES, N.; GROSFOGUEL, Ramón. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019, p. 27-54.
MELLO, Anahi G.; NUERNBERG, Adriano H. Corpo, gênero e sexualidade na experiência da deficiência: algumas notas de campo. Em: III Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades. Salvador: Universidade do Estado da Bahia, 2013.
MONTEIRO, Marina. “De pedra e pau”: etnografia do Levante Popular de junho de 2013 na cidade do Rio de Janeiro e suas continuidades. 2018. Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
MOMBAÇA, Jota. Ñ V NOS MATAR AGORA. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
MORRISON, Toni. A origem dos outros: seis ensaios sobre racismo e literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
MURNEY, Anastasia. Fazendo uma Bagunça: Expandindo Mundos Anarquistas e Feministas. Tradução: Cello Latini Pfeil. Em: Biblioteca Anarquista Lusófona, 2024. Disponível em: bibliotecaanarquista.org. Acesso em: 22/05/2023.
NEWMAN, Saul. as políticas do pós-anarquismo. Em: verve, 9: 30-50, 2006.
NEWMAN, Saul. From Bakunin to Lacan: Anti-authoritarianism and the dislocation of power. s.l.: Lexington Books, 2001.
PFEIL, B. L.; PFEIL, C. L. A cisgeneridade em negação: apresentando o conceito de ofensa da nomeação. Em: Revista de Estudos em Educação e Diversidade, v. 3, n. 9, 2022, p. 1–24.
PFEIL, Bruno Latini; PFEIL, Cello Latini. Monstruosidades anárquicas: trans-anarquistas contra o estado. Em: Anarkokuir, 2024. Disponível em: anarkokuir.hotglue.me. Acesso em: 17/07/2024.
PRECIADO, Paul B. Eu sou o monstro que vos fala: relatório para uma academia de psicanalistas. Tradução: Sara Wagner York. Em: Revista A Palavra Solta, 2020.
SILVA, Jovanna Cardoso da. Bajubá Odara: Resumo Histórico do Nascimento do Movimento Social de Travestis e Transexuais do Brasil. Em: Picos, 2021.
STOLLER, R. A experiência transexual. Porto Alegre: Artes Médicas, 1982.
VERGUEIRO, Viviane. Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade. 2016. Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA.
[1] Professor do Preparatório Transviades. Doutorando em Filosofia (UFRJ). Psicanalista. Contato: mltpfeil@gmail.com. Bolsista CAPES. Agradeço aos comentários de Isadora França e Marina Monteiro.
[2] Referência a um trecho do filme.
[3] Refiro-me ao que ocorreu com Paul B. Preciado em 2019, durante seu discurso “Eu sou o monstro que vos fala”.
[4] Aquilo que entendo como trans-anarquismo bebe de algumas traduções que realizei no início de 2024, de autorias como Shuli Branson, Alex Barksdale, Lena Eckert, Eric Stanley e Elis L. Herman, e que me inspiraram a escrever sobre esse conceito [tranarchism] em língua portuguesa. Farei o meu melhor para expor as ideias dessas autorias neste artigo. Optei por traduzir a palavra tranarchism como trans-anarquismo, para manter aspectos de seu sentido original e fazer jus à pronúncia em português. Mas é claro que outras traduções são possíveis, como: tranarquismo ou transanarquismo, ou, reproduzindo o trocadilho feito em língua inglesa, travecanarquismo. Ou outras também.
[5] Em 2 de junho de 2024, ocorreu a parada do orgulho LGBTIAP+ de São Paulo. Um dos marcos dessa parada foi o uso da bandeira nacional como símbolo de orgulho e como algo passível de ressignificação.
[6] Esses termos se referem à apropriação de grandes empresas e corporações da “temática” trans, LGBTIA+ etc. Não se refere à relação de dependência que possuímos para com políticas públicas, por exemplo.
[7] É interessante lembrar que a OMS conta com 194 estados membros, ou seja, o diagnóstico de ‘incongruência de gênero’ é válido em 194 países. Eis uma expressão da colonialidade global, como pensado por Ramón Grosfoguel.
[8] Hardwig pensa a dependência epistêmica em relação à confiança que depositamos sobre a noção de especialistas, culminando na divisão entre especialistas e leigos: estes últimos inquirem os primeiros sobre suas afirmações. Como não se pode comprovar empiricamente a validade ou a legitimidade de todas as assertivas elaboradas por esse saber, há que se depositar algum grau de confiança no que dizem os especialistas. Para verificar, ainda que de maneira superficial, a validade de certo saber, os leigos podem conferir as críticas de outros especialistas sobre determinado assunto, de modo a testar a validade de algum deles em seu campo de atuação. Contudo, dessa hierarquização de especialistas deriva somente seu refinamento, e não seu encerramento. Os especialistas permanecem em posição de especialistas.
[9] Disponível em: brasil.elpais.com.
[10] A exemplo da pena de morte. A pena de morte é uma forma institucionalizada de um ‘direito natural’, o direito de defesa. Ao fundamentar a pena de morte, o estado fundamenta seu direito de se defender, análogo ao direito de legítima defesa do direito natural.
[11] Subtítulo escolhido em referência ao já citado texto “Monstruosidades anárquicas: trans-anarquistas contra o estado”, escrito em parceria com Bruno Latini Pfeil.
[12] Não me parece totalmente insustentável argumentar que a IPA – Associação Psicanalítica Internacional se tornou, ou almeja ainda se tornar, uma espécie de ‘estado’ para as demais associações e escolas de psicanálise.
[13] As informações sobre esse caso foram extraídas da maravilhosa tese de doutorado de Céu Silva Cavalcanti, logo citada nesse artigo.
[14] Disponível em: www.instagram.com. Acesso em: 20/11/2024.
[15] Tradução livre: “porque seria uma loucura esperar que os privilegiados reconheçam o dano e a injustiça que implicam em seus privilégios e se decidam a renunciar voluntariamente deles. Deve ser violenta porque a transitória violência revolucionária é o único meio para pôr fim à maior e perpétua violência que mantém em escravidão a grande massa dos homens.”
[16] Aqui, faço referência à noção de Viviane Vergueiro sobre os três elementos que caracterizam a cisgeneridade: binariedade, pré-discursividade e permanência. A binariedade se refere às dicotomias homem/mulher, macho/fêmea etc. A pré-discursividade tem a ver com a designação da binariedade não somente de modo performativo, como a corpos que não possuem agência sobre essa designação. E a permanência designa a violência que atravessa qualquer possibilidade de trânsito por essas categorias.